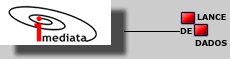|
|
|
|
A escalada do capitalismo de catástrofe |
|
|
Naomi Klein
Tradução
Imediata |
|
|
No verão passado, no meio da calmaria e da sesta da mídia, características do mês de agosto, a doutrina de ataques de guerra preventivos do governo Bush deu um grande avanço. Em 5 de agosto de 2004, a Casa Branca criou o Departamento do Coordenador para a Reconstrução e Estabilização (Office of the Coordinator for Reconstruction and Stabilization), liderada pelo antigo embaixador dos EUA na Ucrânia, Carlos Pascual. O seu mandato consiste em conceber elaborados planos "pós-conflito" para um número de vinte-cinco países que ainda não estão em conflito. Segundo Pascual, o departamento também será capaz de coordenar três operações de reconstrução em escala integral em diferentes continentes e "contemporaneamente", cada uma durando "de cinco a sete anos". Para tanto, um governo dedicado à desconstrução preventiva perpétua tem, agora, um escritório dedicado à reconstrução preventiva perpétua. Já se foram os dias em que se esperava que as guerras acontecessem para depois se conceberem planos ad hoc para juntar os pedaços. Em estreita cooperação com o Conselho para a Inteligência Nacional (National Intelligence Council), o escritório de Pascual mantém os países "de alto risco" numa "lista de vigilância" e reúne equipes que possam fornecer uma resposta rápida, prontas para serem engajadas no planejamento pré-guerra e para serem "mobilizadas e distribuídas rapidamente" depois do término do conflito. As equipes são formadas de companhias privadas, organizações não governamentais e membros de think tanks (N. do T.: grupos de pesquisadores voltados a temas específicos) –alguns dos quais, Pascual disse a uma audiência do Centro para Estudos Estratégicos e Internacionais em outubro, terão contratos "pré-completados" para reconstruir países que ainda não estiverem quebrados. Fazer a lição de casa antecipadamente poderia "cortar de três a seis meses do período de tempo de resposta". Os planos que as equipes de Pascual têm concebido em seu não muito conhecido escritório, no Departamento de Estado, dizem respeito a mudar "o próprio tecido social de uma nação", ele afirmou à CSIS. O mandato do departamento não é reconstruir velhos estados, vejam bem, mas criar estados "democráticos e voltados ao mercado". Assim, por exemplo (e ele estava apenas tirando esse exemplo de sua cartola, não há dúvidas disso), seus velozes reconstrutores poderiam ajudar a liquidar "empresas estatais que geraram uma economia inviável". Às vezes, "reconstruir quer dizer destruir o velho", ele explicou. Poucos ideólogos podem resistir à perspectiva de uma carta branca –que era a promessa sedutora do colonialismo: "descobrir" novas e vastas terras onde a utopia parecia impossível. Mas o colonialismo está morto, ou assim nos dizem: não há lugares novos a serem descobertos, nenhuma terra nullius (e, de fato, nunca houve), nenhuma página em branco sobre as quais, como Mao disse certa vez, "as palavras mais belas e novas possam ser escritas". Há, entretanto, destruição de sobra —países destroçados em ruínas, seja pelos chamados "Atos de Deus" (N. do T.: "Acts of God" - forças ou motivos de força maior, em inglês) ou pelos Atos do Bush (segundo ordens de Deus). E onde há destruição há reconstrução, uma chance de agarrar a "terrível aridez", como um funcionário das Nações Unidas descreveu, recentemente, a devastação em Aceh, e de preenchê-la com os planos mais belos e perfeitos. "Estávamos acostumados com o colonialismo vulgar", diz Shalmali Guttal, pesquisador com base em Bangalore para o Focus on the Global South. "Agora, temos um colonialismo sofisticado, e eles o chamam de ‘reconstrução’". Não podemos negar o fato de que parece que porções cada vez mais amplas do globo estão sob reconstrução ativa: sendo reconstruídas por um governo paralelo constituído de uma casta familiar de empresas de consultoria com fins lucrativos, companhias de engenharia, mega-ONGs, agências governamentais e de ajuda da ONU e instituições financeiras internacionais. E, das pessoas vivendo nesses sítios de reconstrução —do Iraque a Aceh, do Afeganistão ao Haiti–um coro similar de queixas pode ser ouvido. O trabalho está muito lento, se é que está havendo mesmo qualquer trabalho. Consultores estrangeiros desfrutam da vida boa, vivendo de altas contas mais despesas cobertas, e salários de milhares de dólares por dia, enquanto os locais permanecem cortados dos tão necessários empregos, treinamentos e processos de tomada de decisão. "Construtores da democracia" especializados doutrinam os governos sobre a importância da transparência e da "boa governança"; apesar disso, a maioria dos empreiteiros contratados e das ONGs se recusam a abrir seus registros contábeis para aqueles mesmos governos, e nem pensar em ceder o controle sobre como o dinheiro da ajuda é gasto. Três meses depois que o tsunami se abateu sobre Aceh, o New York Times publicou uma matéria reportando que "quase nada tinha sido feito para começar os reparos e a reconstrução". O mesmo informe podia ter vindo do Iraque, onde, segundo relato recentíssimo do Los Angeles Times, todas as instalações que se alega que foram reconstruídas pela Bechtel para os reservatórios de água, já começaram a ruir, um item a mais na infinita litania das danificações. Mas poderia ter vindo também do Afeganistão, onde o Presidente Hamid Karzai recentemente atacou os empreiteiros estrangeiros contratados de "corruptos, desperdiçadores e irresponsáveis", por "consumir os preciosos recursos que o Afeganistão recebeu de ajuda". Ou de Sri Lanka, onde 600.000 pessoas que perderam suas casas durante o tsunami estão ainda vegetando em campos temporários. Cem dias depois do ataque das ondas gigantes, Herman Kumara, líder do movimento National Fisheries Solidarity Movement, de Negombo, Sri Lanka, enviou um e-mail desesperado para seus colegas em todo o mundo: "Os fundos recebidos para benefício das vítimas são dirigidos aos poucos privilegiados, e não para as vítimas reais", escreveu ele. "Nossas vozes não são ouvidas e não se permite que elas sejam ouvidas." Mas se a indústria da reconstrução é surpreendentemente inepta para a reconstrução, isso talvez se deva ao fato de que a reconstrução não é o seu propósito primário. Segundo Guttal, "Não se trata de reconstrução coisa nenhuma —mas de remodelar tudo." As histórias de corrupção e incompetência servem para salientar esse escândalo ainda mais profundo: a escalada de uma forma predatória de capitalismo de catástrofe que usa o desespero e o medo criados por uma catástrofe para implantar toda uma engenharia social e econômica. E, nesta frente, a indústria da reconstrução trabalha tão veloz e eficientemente que as privatizações e a tomada da posse de terras ocorrem antes mesmo que a população local tenha sabido o que realmente a atingiu. Kumara, em outro e-mail, adverte que o Sri Lanka está enfrentando, agora, "um segundo tsunami, o da globalização corporativa e militarização", potencialmente ainda mais devastador do que o primeiro. " Vemos isso como um plano de ação em plena crise do tsunami para entregar o mar e a costa a corporações estrangeiras e ao turismo, com assistência militar dos Marines dos EUA." O Suplente do Secretário da Defesa, Paul Wolfowitz, concebeu e supervisionou um projeto incrivelmente similar no Iraque: enquanto os incêndios ainda queimavam Bagdá, funcionários da ocupação dos EUA rescreviam as leis de investimentos e anunciavam que as companhias estatais do país seriam privatizadas. Algumas pessoas lembraram o fato, argumentando que, por isso, Wolfowitz não teria competência para liderar o Banco Mundial; na realidade, nada poderia tê-lo preparado melhor para o novo posto. No Iraque, Wolfowitz estava fazendo simplesmente o que o Banco Mundial já está fazendo em praticamente cada país do mundo destruído pela guerra ou atingido por algum desastre–mesmo se com menos belezuras burocráticas e mais bravatas ideológicas. Os países "pós-conflito" recebem, hoje em dia, de 20 a 25 por cento do total de empréstimos do Banco Mundial, um nível 16% superior ao de 1998, o qual já era 800% superior ao de 1980, segundo estudo do Serviço de Pesquisas do Congresso. Uma resposta rápida às guerras e aos desastres naturais tem sido da alçada das agências da ONU, as quais trabalhavam com as ONGs para fornecer ajuda de emergência, construir habitações temporárias, etc. Agora, os trabalhos de reconstrução se revelaram uma indústria altamente lucrativa, importante demais para ser deixada para os benfeitores da ONU. Assim, hoje, é ao Banco Mundial, já dedicado ao princípio de aliviar a pobreza através de processos com fins lucrativos, que cabe a liderança do processo. E não há a menor dúvida de que há lucros a serem feitos nos negócios de reconstrução. Há imensos contratos de engenharia e abastecimento (10 bilhões de dólares para a Halliburton, somente no Iraque e Afeganistão); a "construção da democracia" explodiu numa indústria de 2 bilhões de dólares e nunca houve um tempo melhor para os consultores do setor público —as empresas privadas que assessoram os governos para que esses liquidem seus ativos, empresas essas que, muitas vezes, administram as próprias agências governamentais, como subcontratadas. (Bearing Point, a mais favorecida dessas empresas nos EUA, reportou que sua renda para a divisão de "serviços públicos quadruplicou em apenas cinco anos", e que os lucros foram altíssimos: $342 milhões, em 2002–uma margem de lucro de 35 por cento.) Mas os países abalados são muito atraentes para o Banco Mundial por outra razão: eles acatam as ordens muito bem. Depois de um evento catastrófico, os governos farão qualquer coisa para obter ajuda em dinheiro — mesmo se isso significa contrair altas dívidas e concordar com reformas políticas arrasadoras. E com a população local lutando para obter casa e comida, a organização política contra a privatização pode parecer um luxo inimaginável. Ainda melhor, na perspectiva do Banco, muitos países destruídos pela guerra estão em estado de "soberania limitada": são considerados instáveis demais e incapacitados para gerenciar o dinheiro da ajuda recebido, e assim, normalmente, esses fundos são colocados num truste administrado pelo Banco Mundial. Esse foi o caso em Timor Leste, onde o Banco empresta o dinheiro ao governo, enquanto esse demonstrar que o está gastando com responsabilidade. Aparentemente, isso significa cortar empregos do setor público (o governo de Timor Leste tem a metade do tamanho que tinha sob a ocupação da Indonésia), mas quantias incríveis de ajuda em dinheiro são despendidas com consultores estrangeiros, os quais o Banco insiste que devem ser contratados (o pesquisador Ben Moxham escreve: "Em um departamento governamental, um único consultor internacional ganha em apenas um mês o mesmo que ganham vinte de seus colegas timorenses durante um ano inteiro.") No Afeganistão, onde o Banco Mundial também administra a ajuda ao país através de um fundo de truste, a instituição já conseguiu privatizar o setor da saúde, recusando-se a dar fundos ao Ministério da Saúde para construir hospitais. Ao invés disso, está afunilando dinheiro diretamente para as ONGs que estão gerenciando suas próprias clínicas privadas, com base em contratos de 3 anos de duração. O Banco Mundial também impôs "um maior papel para o setor privado" no sistema hídrico, nas telecomunicações, petróleo, gás e mineração, e ordenou ao governo que "se retirasse" do setor da eletricidade e que o deixasse para os "investidores privados estrangeiros". Essas profundas transformações na sociedade afegã nunca foram debatidas, tampouco se fez qualquer relatório sobre elas, porque poucas pessoas fora do Banco sabiam o que estavam ocorrendo: as mudanças foram enterradas bem fundo, num "apêndice técnico" anexo a uma concessão de fundos que fornecia ajuda "de emergência" para a recém destruída infra-estrutura do Afeganistão –dois anos antes que o país tivesse um governo eleito. A história tem sido a mesma no Haiti, seguindo a destituição do Presidente Jean-Bertrand Aristide. Em troca de um empréstimo de 61 milhões de dólares, o Banco está exigindo "parceria e governança mista entre o setor público e o privado para os setores da educação e da saúde", segundo os documentos do Banco —ou seja, que companhias privadas administrem as escolas e os hospitais. Roger Noriega, Assistente ao Secretário de Estado dos EUA para Negócios do Hemisfério Ocidental, deixou claro que o governo Bush compartilha esses objetivos: "Nós também encorajaremos que o governo do Haiti ande para a frente, no momento apropriado, com a restruturação e a privatização de algumas empresas públicas", disse ele ao American Enterprise Institute em 14 de abril de 2004. Esses são planos extremamente controvertidos em um país com ampla base socialista, e o Banco admite que é precisamente por essa razão que ele está empurrando essa abordagem, com o Haiti encontrando-se numa situação próxima à de um regime militar. "O Governo de Transição fornece uma janela de oportunidade para a implementação de reformas de governança econômica… e que será difícil desfazer isso no futuro", o Banco observa em seu acordo chamado Projeto da Operação Reforma da Governança Econômica (Economic Governance Reform Operation Project). Para os haitianos, essa é uma grande ironia: muitos culpam as instituições multilaterais, incluindo o Banco Mundial, por aumentar a crise política que levou à deposição de Aristide, por se negarem a liberar as centenas de milhões correspondentes aos empréstimos prometidos. Na época, o Banco Inter-Americano de Desenvolvimento, sob pressão do Departamento de Estado, alegou que o Haiti não era suficientemente democrático para receber o dinheiro, apontando para menores irregularidades ocorridas numa eleição legislativa. Mas agora que Aristide está fora, o Banco Mundial está celebrando abertamente a gratificação de operar em uma zona livre de democracia. O Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional têm imposto terapias de choque a países sob vários estados de choque por ao menos 3 décadas, sobretudo depois dos golpes militares na América Latina e o colapso da União Soviética. Ainda assim, muitos observadores afirmam que o capitalismo de catástrofe realmente teve sua alavancagem com o Furacão Mitch. Durante uma semana, em outubro de 1998, o furacão estacionou na América Central, engolindo inteiros vilarejos e matando mais de 9.000 pessoas. Países já empobrecidos estavam desesperados para receber ajuda de reconstrução —e ela veio, mas com algumas condições impostas. Nos dois meses que se seguiram ao furacão Mitch, com o país ainda de joelhos e repleto de cadáveres e lama, o congresso de Honduras iniciou o que o Financial Times chamou de "liquidação veloz, depois da tempestade", aprovando leis que permitiam a privatização dos aeroportos, portos e rodovias, além de planos urgentes para privatizar a companhia telefônica estatal, a companhia elétrica nacional e partes do setor da água. Derrubou as leis de reforma agrária e facilitou a compra e venda de propriedades para os estrangeiros. O mesmo ocorreu nos países vizinhos: durante os mesmos dois meses, a Guatemala anunciou planos para liquidar com o seu sistema telefônico, e a Nicarágua fez igual, juntamente com a sua companhia elétrica e o seu setor petrolífero. Todos os planos de privatização foram "empurrados" agressivamente pelos mesmos suspeitos de sempre. Segundo o Wall Street Journal, "o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional colocaram todo o seu peso por trás da venda [telecom], fazendo dela uma condição para liberarem os cerca de 47 milhões de dólares anuais de ajuda, por um período de 3 anos, associando esse montante aos cerca de 4,4 bilhões de dólares de ajuda externa para a Nicarágua". Agora, o Banco está usando o tsunami de 26 de dezembro para empurrar suas políticas padrão. Os países mais devastados quase não viram qualquer tipo de ajuda, e a maioria da ajuda de emergência do Banco Mundial veio na forma de empréstimos, não de doações. Ao invés de enfatizar a necessidade de ajudar as pequenas comunidades de pescadores –mais de 80 por cento das vítimas das ondas– o Banco está empurrando a expansão do setor turístico e da criação de pesca em escala industrial. Quanto às infra-estruturas públicas danificadas, como as estradas ou as escolas, os documentos do Banco reconhecem que reconstruí-los poderá "exigir demais das finanças públicas", e sugere que os governos considerem a privatização (é isso mesmo, eles têm só uma boa idéia). "Para certos investimentos", observa o plano de resposta do Banco ao tsunami, "poderá ser apropriado utilizar financiamentos privados". Assim como em outros sítios de reconstrução, do Haiti ao Iraque, a ajuda ao tsunami tem pouco a ver com a recuperação do que foi perdido. Embora os hotéis e a indústria tenham já começado a reconstrução na costa, no Sri Lanka, na Tailândia, na Indonésia e na Índia, os governos aprovaram leis impedindo as famílias de reconstruir suas casas nas costas. Em Aceh, centenas de milhares de pessoas estão sendo transferidas à força para o interior, e instaladas em barracos de estilo militar, e no caso da Tailândia, em caixas de concreto pré-fabricadas. A costa não está sendo reconstruída como ela era –pontuada de vilarejos de pescadores e praias com redes de pesca feitas a mão espalhadas entre elas. Ao contrários, os governos, as corporações e os doadores estrangeiros estão se juntando para reconstruir a costa da forma como eles gostariam que ela realmente fosse: as praias como playground para turistas, os oceanos como minas d’água de exploração para as frotas da indústria corporativa da pesca, e ambos os serviços alcançáveis por meio de aeroportos privatizados e de rodovias construídas com dinheiro emprestado. Em janeiro, Condoleezza Rice provocou uma pequena controvérsia ao descrever o tsunami como "uma oportunidade maravilhosa" que "pagou altos dividendos para nós". Muita gente ficou horrorizada com a idéia de se tratar uma inacreditável tragédia humana como uma chance de se tirar vantagem. Mas, de qualquer forma, Rice mostrou estar entendendo do caso. Um grupo que se auto-denomina Sobreviventes e Defensores do Tsunami na Tailândia (Thailand Tsunami Survivors and Supporters) diz que: "para homens de negócios-políticos, o tsunami foi a resposta às suas preces, já que, literalmente varreu das áreas costeiras as comunidades que anteriormente impediam a realização de seus planos de construir resorts, hotéis, cassinos e áreas de criação de camarões. Para eles, todas essas áreas costeiras são hoje terra aberta!" A catástrofe, pelo que parece, é a nova terra nullis.
The Rise of Disaster Capitalism
by Naomi Klein The Nation April 19, 2005
Last summer, in the lull of the August media doze, the Bush Administration's doctrine of preventive war took a major leap forward. On August 5, 2004, the White House created the Office of the Coordinator for Reconstruction and Stabilization, headed by former US Ambassador to Ukraine Carlos Pascual. Its mandate is to draw up elaborate "post-conflict" plans for up to twenty-five countries that are not, as of yet, in conflict. According to Pascual, it will also be able to coordinate three full-scale reconstruction operations in different countries "at the same time," each lasting "five to seven years." Fittingly, a government devoted to perpetual pre-emptive deconstruction now has a standing office of perpetual pre-emptive reconstruction. Gone are the days of waiting for wars to break out and then drawing up ad hoc plans to pick up the pieces. In close cooperation with the National Intelligence Council, Pascual's office keeps "high risk" countries on a "watch list" and assembles rapid-response teams ready to engage in prewar planning and to "mobilize and deploy quickly" after a conflict has gone down. The teams are made up of private companies, nongovernmental organizations and members of think tanks--some, Pascual told an audience at the Center for Strategic and International Studies in October, will have "pre-completed" contracts to rebuild countries that are not yet broken. Doing this paperwork in advance could "cut off three to six months in your response time." The plans Pascual's teams have been drawing up in his little-known office in the State Department are about changing "the very social fabric of a nation," he told CSIS. The office's mandate is not to rebuild any old states, you see, but to create "democratic and market-oriented" ones. So, for instance (and he was just pulling this example out of his hat, no doubt), his fast-acting reconstructors might help sell off "state-owned enterprises that created a nonviable economy." Sometimes rebuilding, he explained, means "tearing apart the old." Few ideologues can resist the allure of a blank slate--that was colonialism's seductive promise: "discovering" wide-open new lands where utopia seemed possible. But colonialism is dead, or so we are told; there are no new places to discover, no terra nullius (there never was), no more blank pages on which, as Mao once said, "the newest and most beautiful words can be written." There is, however, plenty of destruction--countries smashed to rubble, whether by so-called Acts of God or by Acts of Bush (on orders from God). And where there is destruction there is reconstruction, a chance to grab hold of "the terrible barrenness," as a UN official recently described the devastation in Aceh, and fill it with the most perfect, beautiful plans. "We used to have vulgar colonialism," says Shalmali Guttal, a Bangalore-based researcher with Focus on the Global South. "Now we have sophisticated colonialism, and they call it 'reconstruction.'" It certainly seems that ever-larger portions of the globe are under active reconstruction: being rebuilt by a parallel government made up of a familiar cast of for-profit consulting firms, engineering companies, mega-NGOs, government and UN aid agencies and international financial institutions. And from the people living in these reconstruction sites--Iraq to Aceh, Afghanistan to Haiti--a similar chorus of complaints can be heard. The work is far too slow, if it is happening at all. Foreign consultants live high on cost-plus expense accounts and thousand- dollar-a-day salaries, while locals are shut out of much-needed jobs, training and decision-making. Expert "democracy builders" lecture governments on the importance of transparency and "good governance," yet most contractors and NGOs refuse to open their books to those same governments, let alone give them control over how their aid money is spent. Three months after the tsunami hit Aceh, the New York Times ran a distressing story reporting that "almost nothing seems to have been done to begin repairs and rebuilding." The dispatch could easily have come from Iraq, where, as the Los Angeles Times just reported, all of Bechtel's allegedly rebuilt water plants have started to break down, one more in an endless litany of reconstruction screw-ups. It could also have come from Afghanistan, where President Hamid Karzai recently blasted "corrupt, wasteful and unaccountable" foreign contractors for "squandering the precious resources that Afghanistan received in aid." Or from Sri Lanka, where 600,000 people who lost their homes in the tsunami are still languishing in temporary camps. One hundred days after the giant waves hit, Herman Kumara, head of the National Fisheries Solidarity Movement in Negombo, Sri Lanka, sent out a desperate e-mail to colleagues around the world. "The funds received for the benefit of the victims are directed to the benefit of the privileged few, not to the real victims," he wrote. "Our voices are not heard and not allowed to be voiced." But if the reconstruction industry is stunningly inept at rebuilding, that may be because rebuilding is not its primary purpose. According to Guttal, "It's not reconstruction at all--it's about reshaping everything." If anything, the stories of corruption and incompetence serve to mask this deeper scandal: the rise of a predatory form of disaster capitalism that uses the desperation and fear created by catastrophe to engage in radical social and economic engineering. And on this front, the reconstruction industry works so quickly and efficiently that the privatizations and land grabs are usually locked in before the local population knows what hit them. Kumara, in another e-mail, warns that Sri Lanka is now facing "a second tsunami of corporate globalization and militarization," potentially even more devastating than the first. "We see this as a plan of action amidst the tsunami crisis to hand over the sea and the coast to foreign corporations and tourism, with military assistance from the US Marines." As Deputy Defense Secretary, Paul Wolfowitz designed and oversaw a strikingly similar project in Iraq: The fires were still burning in Baghdad when US occupation officials rewrote the investment laws and announced that the country's state-owned companies would be privatized. Some have pointed to this track record to argue that Wolfowitz is unfit to lead the World Bank; in fact, nothing could have prepared him better for his new job. In Iraq, Wolfowitz was just doing what the World Bank is already doing in virtually every war-torn and disaster-struck country in the world--albeit with fewer bureaucratic niceties and more ideological bravado. "Post-conflict" countries now receive 20-25 percent of the World Bank's total lending, up from 16 percent in 1998--itself an 800 percent increase since 1980, according to a Congressional Research Service study. Rapid response to wars and natural disasters has traditionally been the domain of United Nations agencies, which worked with NGOs to provide emergency aid, build temporary housing and the like. But now reconstruction work has been revealed as a tremendously lucrative industry, too important to be left to the do-gooders at the UN. So today it is the World Bank, already devoted to the principle of poverty-alleviation through profit-making, that leads the charge. And there is no doubt that there are profits to be made in the reconstruction business. There are massive engineering and supplies contracts ($10 billion to Halliburton in Iraq and Afghanistan alone); "democracy building" has exploded into a $2 billion industry; and times have never been better for public-sector consultants--the private firms that advise governments on selling off their assets, often running government services themselves as subcontractors. (Bearing Point, the favored of these firms in the United States, reported that the revenues for its "public services" division "had quadrupled in just five years," and the profits are huge: $342 million in 2002--a profit margin of 35 percent.) But shattered countries are attractive to the World Bank for another reason: They take orders well. After a cataclysmic event, governments will usually do whatever it takes to get aid dollars--even if it means racking up huge debts and agreeing to sweeping policy reforms. And with the local population struggling to find shelter and food, political organizing against privatization can seem like an unimaginable luxury. Even better from the bank's perspective, many war-ravaged countries are in states of "limited sovereignty": They are considered too unstable and unskilled to manage the aid money pouring in, so it is often put in a trust fund managed by the World Bank. This is the case in East Timor, where the bank doles out money to the government as long as it shows it is spending responsibly. Apparently, this means slashing public-sector jobs (Timor's government is half the size it was under Indonesian occupation) but lavishing aid money on foreign consultants the bank insists the government hire (researcher Ben Moxham writes, "In one government department, a single international consultant earns in one month the same as his twenty Timorese colleagues earn together in an entire year"). In Afghanistan, where the World Bank also administers the country's aid through a trust fund, it has already managed to privatize healthcare by refusing to give funds to the Ministry of Health to build hospitals. Instead it funnels money directly to NGOs, which are running their own private health clinics on three-year contracts. It has also mandated "an increased role for the private sector" in the water system, telecommunications, oil, gas and mining and directed the government to "withdraw" from the electricity sector and leave it to "foreign private investors." These profound transformations of Afghan society were never debated or reported on, because few outside the bank know they took place: The changes were buried deep in a "technical annex" attached to a grant providing "emergency" aid to Afghanistan's war-torn infrastructure--two years before the country had an elected government. It has been much the same story in Haiti, following the ouster of President Jean-Bertrand Aristide. In exchange for a $61 million loan, the bank is requiring "public-private partnership and governance in the education and health sectors," according to bank documents--i.e., private companies running schools and hospitals. Roger Noriega, US Assistant Secretary of State for Western Hemisphere Affairs, has made it clear that the Bush Administration shares these goals. "We will also encourage the government of Haiti to move forward, at the appropriate time, with restructuring and privatization of some public sector enterprises," he told the American Enterprise Institute on April 14, 2004. These are extraordinarily controversial plans in a country with a powerful socialist base, and the bank admits that this is precisely why it is pushing them now, with Haiti under what approaches military rule. "The Transitional Government provide[s] a window of opportunity for implementing economic governance reforms...that may be hard for a future government to undo," the bank notes in its Economic Governance Reform Operation Project agreement. For Haitians, this is a particularly bitter irony: Many blame multilateral institutions, including the World Bank, for deepening the political crisis that led to Aristide's ouster by withholding hundreds of millions in promised loans. At the time, the Inter-American Development Bank, under pressure from the State Department, claimed Haiti was insufficiently democratic to receive the money, pointing to minor irregularities in a legislative election. But now that Aristide is out, the World Bank is openly celebrating the perks of operating in a democracy-free zone. The World Bank and the International Monetary Fund have been imposing shock therapy on countries in various states of shock for at least three decades, most notably after Latin America's military coups and the collapse of the Soviet Union. Yet many observers say that today's disaster capitalism really hit its stride with Hurricane Mitch. For a week in October 1998, Mitch parked itself over Central America, swallowing villages whole and killing more than 9,000. Already impoverished countries were desperate for reconstruction aid--and it came, but with strings attached. In the two months after Mitch struck, with the country still knee-deep in rubble, corpses and mud, the Honduran congress initiated what the Financial Times called "speed sell-offs after the storm." It passed laws allowing the privatization of airports, seaports and highways and fast-tracked plans to privatize the state telephone company, the national electric company and parts of the water sector. It overturned land-reform laws and made it easier for foreigners to buy and sell property. It was much the same in neighboring countries: In the same two months, Guatemala announced plans to sell off its phone system, and Nicaragua did likewise, along with its electric company and its petroleum sector. All of the privatization plans were pushed aggressively by the usual suspects. According to the Wall Street Journal, "the World Bank and International Monetary Fund had thrown their weight behind the [telecom] sale, making it a condition for release of roughly $47 million in aid annually over three years and linking it to about $4.4 billion in foreign-debt relief for Nicaragua." Now the bank is using the December 26 tsunami to push through its cookie-cutter policies. The most devastated countries have seen almost no debt relief, and most of the World Bank's emergency aid has come in the form of loans, not grants. Rather than emphasizing the need to help the small fishing communities--more than 80 percent of the wave's victims--the bank is pushing for expansion of the tourism sector and industrial fish farms. As for the damaged public infrastructure, like roads and schools, bank documents recognize that rebuilding them "may strain public finances" and suggest that governments consider privatization (yes, they have only one idea). "For certain investments," notes the bank's tsunami-response plan, "it may be appropriate to utilize private financing." As in other reconstruction sites, from Haiti to Iraq, tsunami relief has little to do with recovering what was lost. Although hotels and industry have already started reconstructing on the coast, in Sri Lanka, Thailand, Indonesia and India, governments have passed laws preventing families from rebuilding their oceanfront homes. Hundreds of thousands of people are being forcibly relocated inland, to military style barracks in Aceh and prefab concrete boxes in Thailand. The coast is not being rebuilt as it was--dotted with fishing villages and beaches strewn with handmade nets. Instead, governments, corporations and foreign donors are teaming up to rebuild it as they would like it to be: the beaches as playgrounds for tourists, the oceans as watery mines for corporate fishing fleets, both serviced by privatized airports and highways built on borrowed money. In January Condoleezza Rice sparked a small controversy by describing the tsunami as "a wonderful opportunity" that "has paid great dividends for us." Many were horrified at the idea of treating a massive human tragedy as a chance to seek advantage. But, if anything, Rice was understating the case. A group calling itself Thailand Tsunami Survivors and Supporters says that for "businessmen-politicians, the tsunami was the answer to their prayers, since it literally wiped these coastal areas clean of the communities which had previously stood in the way of their plans for resorts, hotels, casinos and shrimp farms. To them, all these coastal areas are now open land!" Disaster, it seems, is the new terra nullius.
Envie
um comentário sobre este artigo
|
|