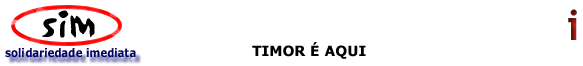
CNRT/Congresso Nacional
Presidência
ALOCUÇÃO
DO
PRESIDENTE DO CNRT/CN,
KAY RALA XANANA GUSMÃO
Por ocasião do
Seminário "Reconciliação, Tolerância, Direitos Humanos e Eleições"
Sede do Conselho Nacional,
Dili, 12 de Fevereiro de 2001
I
Considerações socio-históricas (antes e depois de 25 de Abril de 1974)
1. A história do Povo Timorense está recheada de lutas independentistas contra o domínio português e que culminou com a grande rebelião de Manufahi, em 1912.
Dividido em reinos, este Povo afirmou-se como um povo guerreiro e ao mesmo tempo manhoso no seu relacionamento com os portugueses. Nós acreditamos que depois de Manufahi, o Povo timorense, obviamente ainda dividido em reinos, conheceu uma era de um melhor relacionamento entre os diversos reinos, até ao período da ocupação japonesa.
A ocupação japonesa, de 1942 a 1945, foi mais um outro teste da valentia do povo timorense, conjugando a vivência com o ocupante com a determinação de combater a sua presença.
Eu sou da geração pós-ocupação japonesa. Deste período ao período da invasão indonésia, foram outros 30 anos.
Houve um certo relaxamento do nosso povo, nos períodos após as duas guerras mais recentes, anteriores à invasão indonésia. Pode-se pensar que era trauma da guerra e do sofrimento e que era também uma trauma das perdas humanas e materiais, que teria reduzido o nosso povo a uma aparente aceitação da presença portuguesa.
Eu pertenço a uma geração que ouvia muito dizer que ‘os timorenses são (isto é, eram) um povo pacífico’. De certa forma, era verdade! E diga-se de passagem, não havia até os anos 60, alguma presença militar ou instituição da polícia política. Mas, mesmo com a presença de um grande efectivo militar português, e da presença da PIDE (Polícia política portuguesa), os timorenses continuavam a demonstrar um comportamento muito tolerante e toda e qualquer disputa violenta para resolver conflitos, nomeadamente litígios de propriedades ou problemas ligados à cultura tradicional sobre os valores de família, não era em grupos organizados mas por indíviduos contra indivíduos.
O Povo timorense, em si, é um povo pacífico e tolerante, por natureza. O exemplo magnífico desta maneira de ser foi demonstrado, na forma como agia e reagia, na forma como convivia com o ocupante, durante 25 anos e sobretudo durante o último ano, no período decisivo da sua luta que o levaria ao referendo. Também é verdade que, como comportamento ou atitude, indivíduos ou grupos de pessoas, aderiam à violência quando pensavam que a razão estava do seu lado, consciente ou inconscientemente, quer dizer, conscientemente ou por manipulação de terceiros.
E é bom saber-se que o que define o carácter deste povo é a sua agressividade, quando reage.
Foi este factor de carácter agressivo que o povo possui, que foi explorado quando eclodiu a guerra civil de 1975. Como consequência da liberdade oferecida por Portugal em 1974, o aparecimento dos partidos defendendo ideologias antagónicas por natureza, fez ressaltar as diferenças na sociedade timorense. Um outro erro crucial foi o facto de os partidos terem adoptado a política de distribuir cartões por toda a população, dividindo o povo, desde os distritos a sub-distritos, estes sobretudo aparecendo como fortalezas deste ou daquele partido, desde os sucos, povoações e até mesmo entre membros de uma mesma família.
Este factor político fez reviver velhos litígios (em termos de posse de propriedades e terras e em termos de relações cultural-tradicionais), atiçando assim a vontade de vingança. E o golpe e o contra-golpe, entre 2 partidos ou movimentos nacionalistas, para além da luta ideológica que assumiram, foi no terreno aproveitado para uma violência de rancor e de vingança. Mas, diga-se em abono da verdade, que decorrido muito pouco tempo depois e como se o que foi necessário ser vingado, estava já vingado, a calma reinou em todo o território. Para além das prisões, obviamente, as populações viviam de novo o seu dia-a-dia, sem se importar muito de quem era de que partido.
Quero realçar este facto, para provar mais uma vez que este povo, o povo timorense, é por natureza pacífico e tolerante.
E quero também demonstrar como, em qualquer tipo de generalização de violência, são indivíduos ou grupos identificados quem pratica a violência e nunca as populações no seu todo.
Desejo também chamar a atenção para o factor da influência/manipulação por parte de terceiros.
II
A violência no contexto actual (sistema colonial: repressivo e fragmentista)
1. Costuma-se dizer que os regimes de dominação tinham a lei do ‘divide et impera’. Até Manufahi, o domínio português era contestado por todos os reinos mas quando se passava à luta armada, era apenas um reino ou quando muito um pequeno grupo de reinos quem tomava iniciativa, o que permitia que os portugueses utilizassem outros reinos para os combater, no contexto daquela lei do dividir para reinar.
Depois da ocupação japonesa, eu creio que as perdas humanas e a destruição material foram, para além de outros motivos que se queiram evocar, indubitavelmente uma razão bastante para que aquela lei de dominação não fosse aplicada com tanto rigor como no passado. E vivia-se até ao 25 de Abril de 1974, um clima de muita tolerância na sociedade e uma vida de calma e tranquilidade pelas populações.
2. O recuo de quase 90% da população para as montanhas, para uma resistência de 3 anos, originou a paragem momentânea da razia aos adversários políticos. Mas isso aconteceu, logo que as forças invasoras puderam destruir, uma a uma, desde os fins de 1977 a finais de 1978, as 6 bases de resistência que cobriam o país. Quadros políticos e militares, do nível superior, só se salvou quem pôde comprar a vida com centenas de armas e as vidas de centenas de guerrilheiros das Falintil, entregues e posteriormente assassinados. Dos quadros médios até aos da base, letrados e população, eram massacrados.
Até 1980, continuava-se a caça, enquanto a organização clandestina estava a iniciar os seus primeiros passos. Em 1980, foi o primeiro desmantelamento da rede clandestina, em Díli. Em 1981, em Baucau. As torturas, os aprisionamentos e os desterros começaram a originar atitudes e comportamentos, que as pessoas não desejavam. Mas muitos enveredaram por contribuir para o ocupante, abrindo então espaço para se instalar aos poucos a rede da inteligência do invasor.
As pessoas começaram a ser pagas para colher dados sobre a resistência e informar. E como consequência disso, os desmantelamentos continuavam em pequena escala mas em quase todo o lado.
As crianças de 1975 tornaram-se jovens, jovens que sofriam o que os seus pais sofriam, jovens que sentiam a repressão do ocupante. Em Outubro de 1989, na visita papal, e em princípios de 1990, na ocasião da visita do embaixador americano em Jakarta, a juventude começou a aparecer como uma força reivindicativa. A organização clandestina juvenil era na altura mais ou menos compacta e as suas actividades culminaram com o 12 de Novembro de 1991, uma manifestação maciça de dimensão política e diplomática extraordinária.
Deve-se lembrar que mais de 1/3 da população morreu naqueles anos todos de bombardeamentos, por balas, por fome e doença e por massacres, muitas vezes colectivos, 1/3 e a maioria era adultos.
A Juventude apareceu, então, aos olhos do ocupante, como o segmento mais perigoso da sociedade. Depois de 12 de Novembro, em continuidade com iniciativas tomadas anteriormente como resposta aos desmantelamentos, a Juventude teve a tendência de dividir-se ainda mais em pequenos grupos. E isto tudo a acontecer com a Juventude a crescer e a aumentar ano após ano.
Sabendo que a eliminação física não era a forma mais aconselhável, embora a mantivesse como necessária, o ocupante optou por destruir a Juventude, minando-lhe o carácter.
3. Para se compreender a capacidade do ocupante de criar aqui, em Timor, uma cultura de violência, deve-se olhar para a sociedade indonésia, onde a juventude indonésia no regime militar do Soeharto praticava violência na rua entre escolas sobretudo secundárias. A inteligência militar estava por trás, financiando mesmo grupos de gangsters por etnias, pervertendo-os e levando-os a confrontarem-se amiudadamente. Depois da queda do Soeharto, as destruições que se seguiram em quase toda a Indonésia e sobretudo em Jakarta, atestava a cadência moral de uma parte da Juventude indonésia. Essa parte era composta pelos marginais da sociedade indonésia.
Aqui, em Timor, a Juventude aumentava em número e não estava prevista uma capacidade de emprego que absorvesse os jovens saídos da escola. Aí, foi terreno fácil ao ocupante perverter a moral de muitos, incentivando o jogo de azar e a desordem, que facilitava as actividades pagas de perseguição política e de delação.
A lei do ‘divide et impera’ era imperiosa para o ocupante e particularmente para a geração que nasceu e cresceu durante a sua dominação. Se, em toda a parte do mundo, a Juventude é a promessa do futuro, a situação era de igual ou mais importância para os militares indonésios.
O resultado foi a violência que se estabeleceu abertamente, durante o longo período que se seguiu à queda do Soeharto, ou início da Reforma na Indonésia, até à Consulta Popular.
4. Que efeitos teve então a ocupação militar indonésia sobre a Juventude?
Globalmente falando, a ocupação teve como reflexo uma consciência comum da repressão, como natureza da dominação estrangeira. Por outro lado, dadas as características e condicionalismos da resistência, havia uma nítida divisão no sector juvenil, entre os marginais que viviam à custa de serviços pagos ou protegidos pela inteligência indonésia e os nacionalistas. Mas, por causa da repressão sistemática, os nacionalistas estavam profundamente divididos em mais pequenos ou mais grandes grupos, com caracteres diferentes, embora todos à sua maneira contribuíssem para a luta.
Também aconteceu que alguns grupos se constituíram e se diferenciaram por ramos da arte marcial. Deve-se ressaltar ainda a existência das organizações para a defesa de bairros.
Assim como no plano da política, as diferenças foram, mais ou menos, suplantadas, ao longo dos anos, porque havia um objectivo comum, o mesmo acontecia com a juventude.
Também no plano da política, depois do Referendo e sobretudo na segunda metade do ano passado, os políticos sentiam e sentem que já não há lugar para uma unidade de objectivos, preferindo alguns marcar melhor as diferenças. No plano sociológico, foi o que aconteceu com a Juventude, nas suas diversas organizações.
Todos lutaram no conjunto, mas cada grupo vê em si uma quota importante no contributo geral. E isso espelha-se mesmo individualmente, quando aparecem situações onde aquele facto se torna um argumento de peso.
III
Os desafios de mudança (Aspectos: económico, cívico e político)
- Devido a tudo quanto expomos atrás e devido ainda à destruição total dos poucos bens acumulados durante anos, a sensação da liberdade tinha um sabor amargo, não só do que aconteceu mas, sobretudo, das expectativas do presente.
Foi o que se sentiu enormemente nos finais de 1999, e que chegou a um clímax em fins de Abril, que permitiu um posterior abrandamento da situação. Era ainda a memória da luta clandestina, já que as diferenças que estavam latentes, aparentemente esquecidas no fervor do Setembro sangrento, vieram à superfície. A memória da luta e da participação de cada grupo ou de cada um, ao invés de inculcar valor aos seus sacrifícios, serviram de pretexto para uns se denominarem mais envolvidos na luta que outros, dando mesmo origem a uns conflitos de cariz regionalista, com slogans de ‘os firakus lutarem mais que os kaladis’. (Nota: São chamados ‘firakus’, os timorenses originários do leste do distrito de Manatuto; os ‘kaladis’, as etnias a oeste do distrito de Manatuto).
A devastação total de Díli criou uma situação propícia para as ocupações desordeiras de edifícios abandonados. A situação difícil no interior provocou também um êxodo para Díli, para além dos refugiados que regressavam do Timor Ocidental, que por motivos diversos, se fixavam aqui na capital. O fenómeno que se notou é que o êxodo foi mais feito pelos ‘firakus’, que estão desde Becora ao Taci Tolu, dominando todo o Mercado Antigo.
2. Toda a gente diz que havia, durante a ocupação indonésia, gangs comandados por Eurico Guterres, (que trabalhava para a inteligência inimiga e que depois se tornou o 2º comandante supremo das milícias pro-integração), gangs esses compostos por muitos elementos da região oriental do país. Hoje, existe a percepção de que alguns casos de violência são provocados por elementos, que não eram das organizações clandestinas, fazendo-se supôr que são elementos pertencentes àqueles gangs.
Quero continuar a lembrar que casos de violência, de certa dimensão, têm sido produzidos por grupos mais ou menos conhecidos. O problema de quase não solução, no sentido de que ainda não se conseguiu pôr fim à potencialidade dos conflitos, reside no facto de não haver, por parte dos que controlam esses grupos, uma vontade genuína de conciliação. Ao invés disso, por cada grupo se sentir como que ‘o mais forte’ ou ‘o mais capaz’ ou ‘o que mais fez’ que os outros, nunca houve disposição de reconhecer os próprios erros. E qualquer esforço feito para o diálogo, não conduz a resultados muito positivos, porque cada grupo exige tanto ou mais do que o outro, sem muita aceitação a compromissos. Qualquer solução que se tenha feito, leva sempre a certeza de não solução.
Coloca-se aqui a falta de consciência política dos elementos desses grupos e, fundamentalmente, o que há de errado, seja do ego seja da ignorância, dos chefes desses grupos.
3. Desde o início, era uma preocupação de todos, o regresso mais ou menos descontrolado dos refugiados e, por conseguinte, dos muitos milícias, agentes da inteligência dos militares indonésios, elementos dos gangs criminosos e desordeiros.
Ainda na primeira metade do ano passado, muito se falou de CDs pornográficos e músicas e apelos do Eurico Guterres que grassavam no Mercado Antigo. Sente-se a presença de elementos enviados, do Timor Ocidental, para provocar distúrbios. Actualmente, o Mercado Antigo é um local sórdido, onde a liberdade se confunde com a libertinagem, com sinais de degradação da moral. Existem muitas informações de que há jovens, portadores de pistolas e de granadas. Grupos já mostraram, em mútuos ataques, que sabem utilizar o ‘molotov’. Há ainda na posse de alguns jovens ou grupos, as armas conhecidas de ‘rakitan’ (= home made, que não é de tradição timorense, mas introduzida com o aparecimento dos milícias). Existem rumores de entrada de armas (algumas dentro dos pneus de reserva) e escondidas, e informações de munições que também entram.
Seja como for, este segmento da Juventude, instrumento para perturbar o processo, deve ser tido em muita consideração, quando falamos de violência, hoje e no futuro próximo.
4. Por outro lado, alguns grupos ou partidos políticos, esquecendo-se totalmente do que aconteceu em 1975 e que causou muito sofrimento ao povo de Timor Lorosa’e estão empenhados, fora do CNRT, a repetir a política de controle da população.
A pressa ao poder, sem a mínima consciência das dificuldades para eles próprios, quando governarem Timor no primeiro período após a proclamação da independência, como eu dizia, a ânsia ao poder está a cegar alguns partidos que, a todo o custo, vão continuando as suas actividades de controle da população, no supremo desejo de provarem que têm uma enorme maioria do povo timorense, nas próximas eleições.
Por outro lado, a CPD-RDTL, formada por lunáticos e políticos incipientes, foi já minando a população em alguns sítios. A CPD-RDTL tem mostrado uma capacidade de mobilizar jovens, muitos dos quais não pertenciam às organizações clandestinas, para actuar violentamente em alguns lados do território. E em Díli, tem actuado de forma a incitar os jovens à violência e ao desmando e ao desrespeito pela lei e pela ordem.
Existe muita potencialidade para uma nova erupção de violência, comandada à distância.
Muitos factores indicam para essa possibilidade:
- o social, onde as perspectivas das pessoas são maiores que as condições reais de realização,
- o económico, onde a falta de emprego constitui um problema sério e a necessidade, futura, de uma mão de obra qualificada, que não existe
- o político, onde alguns partidos escolheram actuar sozinhos, com receio de não alcançarem uma enorme maioria de votos
5. Para combater ou melhor reduzir esta potencialidade de violência, existem vários meios que bem utilizados poderão abrandar as tensões e ajudarão a uma consciência colectiva da necessidade de uma sociedade tolerante no país.
A — Maior envolvimento de jovens em discussões abertas sobre os problemas sociais
B - Maior envolvimento da sociedade civil em debates públicos sobre os mesmos problemas
C - Necessidade de envolvimento de líderes e partidos políticos na educação da Juventude
D - Maior envolvimento da imprensa no processo de educação cívica
Com programas concretos de aceleração desse envolvimento da sociedade, tanto em Díli como a nível dos Distritos, pensa-se que se pode elevar a consciência geral sobre as dificuldades do processo, as perspectivas de desenvolvimento e o papel que cada indivíduo ou grupo pode desempenhar na construção do país.
A médio prazo, só o estabelecimento de um programa adequado de desenvolvimento estratégico pode abrir a visão de todos quanto às possibilidades de participação de todos no futuro. Ao lado disto, é óbvio que imediatamente será fácil definir-se programas de formação profissional, dirigido aos jovens, de forma que cada um sabe que está habilitado e seguro de que vai ter um emprego, participando assim no processo de desenvolvimento.
Finalmente, espera-se que os partidos políticos não utilizem a Juventude como instrumentos políticos de agitação, porque quando os jovens estão impreparados politicamente, será difícil perspectivar-se uma sociedade de tolerância e respeito mútuo.
O Presidente do CNRT,
Kay Rala Xanana Gusmão
Solidariedade Imediata
