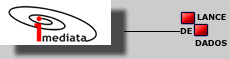|
|
|
|
A minha América é o Império |
|
|
Entrevista de Susan Sontag ao jornal L’Unità, em 09.06.2003, por ocasião do lançamento do seu último livro na Itália.
Tradução
Imediata |
|
|
Susan Sontag é uma senhora de setenta anos, bastante jovial, com cabelos muito longos, as mãos magras e os olhos negros muito profundos. Fala sem parar, seguindo o fio do seu raciocínio, que é sempre tenso procurando distinguir entre a realidade e a imagem que a realidade reflete. Ela teme em ficar presa no emaranhado da imagem, visto que a sociedade moderna — diz — vive sob a ditadura da imagem. Susan Sontag é uma das maiores e mais célebres intelectuais americanas. Escritora, romancista, autora de ensaios, um pouco socióloga, um pouco politóloga, bastante filósofa, autora de uma dezena de livros famosos e de muitos artigos publicados em importantes jornais e revistas americanas.
Vive em Nova York, mas trabalhou e estudou em várias partes dos EUA, de Chicago à Califórnia. Fala e escreve sempre dando a impressão de absoluto equilíbrio e de imparcialidade. Porém é capaz de juízos ferozes. E de imprevistas arrancadas: secas, letais. Em setembro de 2001, por exemplo, foi a única personalidade pública do mundo que ousou afirmar: "Não acho que podemos dizer que os kamikazes sejam covardes. Mostraram ter uma certa coragem…" Foi um grande escândalo. Hoje está em Roma, e nesta noite, em Massenzio, às 21 horas, apresentará o seu último livro (junto com Laura Morante e Ludovico Einaudi). O seu último livro se chama Davanti al dolore degli altri (Frente à dor dos outros) (Mondadori, 112 páginas, 13 Euros). É um livro sobre a diferença entre a imagem e a realidade. Muito crítico com a fotografia, os filmes, a televisão. Mas se perguntada sobre o assunto do livro, ela responde: "a guerra". Ela acredita ter escrito um livro sobre a guerra, e provavelmente é isso mesmo. Ela viu a guerra; por exemplo, passou três anos em Sarajevo, entre os anos de 93 e 95, durante o furioso assédio dos sérvios. E sabe que o fato de tê-la visto condicionou muito o seu modo de pensar, atingindo a sua estrutura de fria intelectual nova-iorquina. Lendo o seu livro me parece ter entendido o seguinte: a sra pensa que a escrita seja muito superior à imagem. A sra acredita que a escrita transmite informações, pensamento, juízos; a imagem, ao contrário, sozinha, transmite muito pouco. É isso mesmo? Se queremos lembrar, então precisamos da imagem; se queremos, ao contrário, entender, então precisamos da palavra, da escrita. Eu não estaria nunca disposta a renunciar às imagens, ao prazer que uma imagem me dá, o qual não é em nada um prazer inferior àquele fornecido pelo conhecimento; é um prazer diferente. Se o problema é entender aguma coisa, daí sim: as palavras são superiores. No seu livro a sra faz observar que os americanos são formidáveis em tomar conta da memória dos horrores cometidos pelos outros povos, mas ao contrário, são incapazes de falar dos próprios horrores. A sra diz, por exemplo, que nos EUA não existe um museu da escravidão, não existe um museu sobre Hiroshima, não existe um museu sobre o genocídio dos peles vermelhas. Qual é o motivo desses esquecimentos? A grande força, o grande poder dos EUA se baseia em três convicções incontestáveis que o nosso povo conserva intactas. A primeira convicção é que os EUA são a exceção a todas as regras históricas. As regras dizem que os povos e as Nações erram? Os EUA não erram nunca. A segunda convicção é que os EUA não podem perder: triunfam sempre. A terceira convicção é que os EUA são sempre bons, sempre fazem aquilo que é correto. Existe ainda outra certeza, ligada a estas três: que nenhum líder americano foi maldoso. Talvez algum tenha sido um pouco corrupto, um pouco medíocre, mas maldoso nunca. Em nenhum outro país do mundo acontece isso. Nunca se viu isso na Itália, na Alemanha, na França. Vocês nunca defenderiam Mussolini ou Hitler, ou o terror de Robespierre… então, entende-se que com base nessas idéias é bem difícil conservar a memória dos grandes erros ou dos grandes horrores do próprio país. Veja que há cinco ou seis anos, o Smithsonian (importante instituição cultural de Washington) decidiu montar uma mostra sobre Hiroshima. Recolheu todos os documentos, as declarações de Truman, as reconstruções, etc. E depois, em uma saleta menor, colocou em exposição as teses e os documentos daqueles que eram contrários ao lançamento da bomba atômica, dos que acreditavam que não era necessário lançá-la porque a guerra já tinha sido vencida, ou daqueles que dizem ter se tratado de um crime de guerra, ou que antes de se lançar a bomba sobre Nagasaki podiam ter esperado pelo menos algumas semanas para ver se o Japão se rendesse. Alguém viu esta parte da mostra com antecedência e protestou, o assunto acabou no Senado e a mostra toda foi cancelada. A sra quer dizer que nos EUA existe uma discreta censura? Claro que existe censura. Olhe só para a história recentíssima. O governo decidiu declarar guerra ao Iraque. Bem, na nossa mídia, nas televisões, não são mostradas as vítimas civis, negligenciam-se as notícias problemáticas, escondem-se fatos, acontecimentos, imagens. Quem decide? O governo, os políticos? Não, quem decide são os responsáveis pelas informações. São eles que estabelecem o que é patriótico e o que não é. Se uma certa informação ou um certo serviço não são patrióticos, não são transmitidos. Cada governo tem um seu sistema de censura. Na Itália também, o governo Berlusconi tem interesse em operar certas censuras. Não há nada de novo nem de tão surpreendente. O importante é que a censura não seja completa, não seja totalitária. Vocês na Itália não têm problema de criticar a Itália. Nos EUA, às vezes, isso não é possível. Existe o mito da inocência eterna dos EUA que não pode ser violado. Qual a sua opinião sobre a guerra do Iraque? Foi conseqüência da decisão do governo americano de dominar o mundo mais ativamente. Isso devido a duas razões, basicamente. A primeira razão reside no juízo de que os EUA dão sobre o Oriente Médio: pensam que seja um lugar instável e ameaçador. A segunda razão é que o governo americano não se sente (e não se sentirá) de modo algum vinculado a qualquer tratado, nem ao direito internacional. Por isso decidiu conquistar um país do Oriente Médio e escolheu o país mais fraco. A sra acha que o Iraque era o país militarmente mais fraco do Oriente Médio? Sim, acho que sim. Sabia-se muito bem que o país estava muito fraco e sabia-se que não tinha armas de extermínio em massa. Por isso foi escolhido. A conquista do Iraque consentiu alcançar três objetivos: 1) demonstrar que aquela parte do mundo pode ser invadida. 2) obter um certo controle sobre o petróleo. 3) chegar a uma forma de ocupação permanente, de modo a enfraquecer a posição da Turquia e da Arábia Saudita, que agora não são mais aliados indispensáveis. Esse era o plano imperialista dos americanos, e foi levado a cabo com sucesso em plena violação do direito internacional. Tudo isso não altera a minha convicção de que Saddam fosse um horrível ditador… Mas a sra, há quatro anos, era favorável à guerra do Kosovo. Porque derrubar Saddam é imperialismo e derrubar Milosevich tudo bem? Talvez Milosevich fosse mais perigoso que Saddam? Saddam era perigoso, muito perigoso para o seu povo. Não para o mundo. É verdade, apoiei a tentativa de derrubar Milosevich. Porque? O governo iugoslavo estava cometendo massacres. A guerra tinha começado vários anos antes, em 92, na Croácia e depois na Bósnia. Eu me lembro que estava aqui na Itália naqueles anos e estava boquiaberta. Dizia: "estão bombardeando Dubrovnic, estão despedaçando a costa da Dalmácia. Será possível que vocês falam dessas coisas como se fossem normais, não percebem que a guerra voltou à Europa?" Por isso fui favorável à intervenção contra Milosevich. Acho que em alguns casos uma expedição militar contra um líder que esteja cometendo massacres, dentro e fora de suas fronteiras, seja uma expedição legítima. Por exemplo, eu fui a favor de uma intervenção inglesa em Serra Leoa, e teria gostado se alguém tivesse sido enviado para parar o genocídio em Ruanda. Então a sra não tem críticas contra aquela guerra? Tenho críticas. Por exemplo, deploro aqueles bombardeios feitos de uma altura de dez mil metros, que provocavam vítimas civis e danos indiscriminados. Mas essas críticas não mudam a minha idéia de base. Eu justifiquei a intervenção americana na Iugoslávia sobretudo por esse motivo: era evidente que os americanos não queriam ocupar a Iugoslávia ou colocar uma base militar em Belgrado. Vê como é grande a diferença com o Iraque? A do Iraque foi uma volta à velha guerra de ocupação imperialista. Como aconteceu em 1898, quando os americanos venceram os espanhóis e tomaram a base de Guantânamo, em Cuba, e a transformaram em uma ilha do diabo, onde não há Estado, não há lei, não há direitos. Parece até que estão instalando um quarto da morte, onde possam ser executadas as sentenças capitais sem a intervenção da lei. A sra viveu três anos em Sarajevo, sob o fogo das bombas sérvias. Essa sua experiência teve algum peso na sua posição sobre a guerra americana contra Milosevich? Eu também me faço essa pergunta continuamente. Sim, acho que sim, acho que na minha muito sofrida decisão de apoiar a ação militar, tenha tido uma influência a minha experiência, ter visto as pessoas morrerem todos os dias em Sarajevo. Lembro-me de que naquele período, Noam Chomsky denunciava a intervenção americana. Eu admiro Noam Chomsky e compartilho muitíssimas coisas que ele apóia, mas naqueles dias eu pensava: "Mas o que está dizendo aquele homem que nunca viu uma guerra? O que está dizendo do seu escritório de Cambridge, no Massachussets?ª. Sei que é uma resposta fraca à sua pergunta, mas é uma resposta.
L’unità 09.06.2003 La mia America è l'Impero Susan Sontag è una signora di settant’anni, assai giovanile, con dei capelli lunghissimi, le mani magre e gli occhi neri molto profondi. Parla senza fermarsi mai, seguendo il filo del suo ragionamento che è sempre teso a distinguere tra la realtà e l’immagine che la realtà riflette. Ha paura di farsi irretire dall’immagine, visto che la società moderna — dice — vive sotto la dittatura dell’immagine. Susan Sontag è una delle maggiori e più celebri intellettuali americane. Scrittrice, romanziera, saggista, un po’ sociologa, un po’ politologa, parecchio filosofa, autrice di una decina di libri famosi e di molti articoli sui maggiori giornali e sulle maggiori riviste americane. Vive a New York, ma ha lavorato e studiato in varie zone d’America, da Chicago alla California. Parla e scrive sempre dando l’impressione di assoluto equilibrio e di non partigianeria. Però è capace di giudizi feroci. E di scatti improvvisi: secchi, micidiali. Nel settembre del 2001, per esempio, fu l’unica persona pubblica al mondo che osò affermare: ´non mi pare che si possa dire che i kamikaze sono dei vigliacchi. Hanno mostrato un certo coraggio…ª. Fu un grande scandalo. Ora è a Roma, e stasera a Massenzio, alle 21, presenterà il suo ultimo libro (insieme a Laura Morante e a Ludovico Einaudi). Il suo ultimo libro si chiama Davanti al dolore degli altri (Mondadori, pagine 112, Euro 13). È un libro sulla differenza tra immagine e realtà. Molto critico con la fotografia, i film, la televisione. Se però le chiedi: signora, di cosa parla il suo libro? Lei risponde: ´della guerraª. Lei sente di avere scritto un libro sulla guerra, e probabilmente è così. Lei la guerra l’ha vista, per esempio ha passato tre anni a Sarajevo, tra il ’93 e il ’95, durante il furibondo assedio dei serbi. E sa che averla vista ha condizionato moltissimo il suo modo di pensare e ha intaccato la sua struttura di fredda intellettuale newyorkese. Signora, leggendo il suo libro mi sembra di aver capito questo: lei pensa che la scrittura sia molto superiore all’immagine. Lei pensa che la scrittura trasmette informazioni, pensiero, giudizi; l’immagine invece, da sola, trasmette pochissimo. E così? Se uno vuole ricordare, allora ha bisogno dell’immagine; se uno invece vuole capire, allora ha bisogno della parola, della scrittura. Io non sarei mai disposta a rinunciare alle immagini, al piacere che un’immagine mi dà, che non è per nulla un piacere inferiore a quello che mi da la conoscenza; è un piacere diverso. Se il problema è quello di capire una cosa, però, allora sì: le parole sono superiori. Nel suo libro lei fa notare che gli americani sono formidabili nel curare la memoria degli orrori commessi dagli altri popoli, ma invece sono incapaci di parlare dei propri orrori. Lei dice, ad esempio, che in America non c’è un museo sulla schiavitù, non c’è un museo su Hiroshima, non ce ne è uno sul genocidio dei pellerossa. Qual è il motivo di queste dimenticanze? La grande forza, il grande potere degli Stati Uniti si basa su tre convinzioni inattaccabili che il nostro popolo conserva intatte. La prima convinzione è che gli Stati Uniti sono l’eccezione a tutte le regole storiche. Le regole dicono che i popoli e gli Stati sbagliano? Gli Stati Uniti non sbagliano mai. La seconda convinzione è che gli Stati Uniti non possono perdere: trionfano sempre. La terza convinzione è che gli Stati Uniti sono sempre bravi, fanno sempre le cose giuste. Poi c’è un’altra certezza, connessa a queste tre: che nessun leader americano è stato malvagio. Qualcuno magari un po’ corrotto, un po’ mediocre, ma cattivo mai. In nessun altro paese al mondo è così. Non si è mai visto né in Italia, né in Germania, né in Francia. Voi non difendereste mai Mussolini o Hitler, o il terrore di Robespierre…lei capisce che sulla base di queste idee è ben difficile conservare il ricordo dei grandi errori o dei grandi orrori del proprio paese. Pensi che cinque o sei anni fa lo Smithsoian (importante istituzione culturale di Washington) decise di allestire una mostra su Hiroshima. Raccolse tutti i documenti, le dichiarazioni di Truman, le ricostruzioni, eccetera. E poi, in una saletta più piccola, mise su un pezzo di mostra nel quale si mostravano i ´capi d’accusaª: cioè si esponevano le tesi e i documenti di quelli che sostengono che non c’era bisogno di lanciare la bomba atomica perché la guerra era già vinta, o di quelli che dicono che fu un crimine di guerra, o che o prima di lanciare la bomba su Nagashaki si poteva almeno aspettare qualche settimane per vedere se il Giappone si arrendeva. Qualcuno vide in anticipo questo pezzo di mostra e protestò, la faccenda andò di fronte al Senato e la mostra non si fece. Lei vuol dire che in America c’è una discreta censura? Certo che c’è censura. Guardi la storia recentissima. Il governo ha deciso di fare la guerra in Iraq. Bene, sui nostri media, sulle Tv, non si fanno vedere le vittime civili, si trascurano notizie fastidiose, si nascondono fatti, avvenimenti, immagini. Chi lo decide? Il governo, i politici? No, lo decidono i responsabili dell’informazione. Sono loro che stabiliscono cosa è patriottico e cosa no. Se una certa informazione o un certo servizio non sono patriottici non si trasmettono. Ogni governo ha un suo sistema di censura. Anche in Italia il governo Berlusconi ha interesse a operare delle censure. Non c’è niente di nuovo e neanche di tanto sorprendente. L’importante è che la censura non sia completa, non sia totalitaria. Voi in Italia non avete problemi a criticare l’Italia. In America questo talvolta non è possibile. C’è il mito dell’innocenza eterna degli Stati Uniti che non si può violare. Mi dica la sua opinione sulla guerra dell’Iraq. È stata la conseguenza della decisione del governo americano di dominare il mondo più attivamente. Questo fondamentalmente per due ragioni. La prima ragione sta nel giudizio che gli Stati Uniti danno sul Medio oriente: pensano che sia un luogo instabile e minaccioso. La seconda ragione è che il governo americano non si sente (ne si sentirà) in alcun modo vincolato da alcun trattato, né dal diritto internazionale. Per questo ha deciso di conquistare un paese del Medioriente e ha scelto il più debole. Lei pensa che l’Iraq fosse il paese militarmente più debole del Medioriente? Sì, penso questo. Si sapeva benissimo che era un paese molto debole e si sapeva che non aveva armi di sterminio di massa. Per questo è stato scelto. La conquista dell’Iraq ha consentito di raggiungere tre obiettivi: 1) dimostrare che quella parte del mondo può essere invasa. 2) ottenere un certo controllo sul petrolio. 3) giungere a una forma di occupazione permanente, in modo da indebolire la posizione della Turchia e dell’Arabia saudita, che ora non sono più alleati indispensabili. Era questo il piano imperialistico degli americani, ed è stato portato a termine con successo in piena violazione del diritto internazionale. Tutto ciò non toglie niente alla mia convinzione che Saddam fosse un orribile dittatore… Lei però, quattro anni, fu favorevole alla guerra del Kosovo. Perché rovesciare Saddam è imperialismo e rovesciare Milosevic va bene? Forse Milosevic era più pericoloso di Saddam? Saddam era pericoloso, molto pericoloso per la sua gente. Non per il mondo. È vero, io ho sostenuto il tentativo di deporre Milosevic. Perché? Il governo jugoslavo stava compiendo dei massacri. La guerra era iniziata vari anni prima, nel ’92, in Croazia e poi in Bosnia. Io mi ricordo che ero qui in Italia in quegli anni e mi stupivo. Dicevo: ´stanno bombardando Dubrovnic, stanno facendo a pezzi la costa Dalmata, possibile che voi parliate di queste cose come di fatti normali, non vi rendete conto che la guerra è tornata in Europa?ª. Per questo sono stata favorevole all’intervento contro Milosevic. Io credo che in alcuni casi una spedizione militare contro un leader che sta compiendo dei massacri, dentro e fuori dai suoi confini, sia una spedizione legittima. Per esempio io sono stata favorevole all’intervento inglese in Sierra Leone, e mi sarebbe piaciuto che fosse mandato qualcuno a fermare il genocidio in Ruanda. Quindi lei non ha critiche verso quella guerra? Le critiche le ho. Per esempio deploro quei bombardamenti da diecimila metri, che provocavano vittime civili e danni indiscriminati. Ma queste critiche non mi fanno cambiare idea sulla sostanza. Io ho giustificato l’intervento americano in Jugoslavia soprattutto per questo motivo: era chiaro che gli americani non volevano occupare la Jugoslavia o mettere su una base militare a Belgrado. Vede quanto è grande la differenza con l’Iraq? Quella in Iraq è stata un ritorno alla vecchia guerra di occupazione imperialistica. Come successe nel 1898, quando gli americani sconfissero gli spagnoli e si presero la base di Guantanamo, a Cuba, e la trasformarono in un’isola del diavolo, dove non c’è Stato, non c’è legge, non ci sono diritti. E ora stanno usando Guantanamo. Pare che addirittura stiano mettendo su una camera della morte dove eseguire sentenze capitali senza intervento della magistratura. Lei ha vissuto tre anni a Sarajevo, sotto il fuoco delle bombe serbe. Questa sua esperienza ha pesato sulla sua posizione a proposito della guerra americana a Milosevic? Me lo chiedo continuamente anch’io. Si credo di sì, credo che sulla mia soffertissima decisione di dare supporto a un’azione militare, abbia avuto influenza la mia esperienza, l’aver visto la gente morire tutti giorni a Sarajevo. Mi ricordo che in quel periodo Noam Chomsky denunciava l’intervento americano. Io ammiro Noam Chomsky e condivido moltissime cose che lui sostiene, però in quei giorni pensavo: ´ma cosa dice quest’uomo che non ha mai visto una guerra? cosa dice dal suo ufficio di Cambridge in Massachussets?ª. Capisco che è una risposta debole alla sua domanda, però è una risposta. Envie
um comentário sobre este artigo
|
|