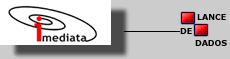|
|
|
|
Faluja, as eleições nos EUA e 11/9: quando o impensável se torna o normal "Os principais canais da mídia falam de Faluja como se a cidade fosse povoada somente por "insurgentes" estrangeiros. Na realidade, há crianças e mulheres que estão sendo assassinadas em nosso nome."
|
|
|
John Pilger Tradução
Imediata |
|
|
O ensaio de Edward S Herman que se tornou ponto de referência sobre o tema: "A Banalidade do Mal", nunca pareceu mais pertinente. "Fazer coisas terríveis de uma maneira organizada e sistemática se baseia na ‘normalização’", escreveu Herman. "Geralmente, há uma divisão de trabalho quanto ao se fazer e racionalizar o impensável, com o tratamento brutal e a matança sendo feitas por determinado grupo de indivíduos… enquanto outros trabalham para aprimorar a tecnologia (um gás crematório mais eficiente, um napalm que queima por mais tempo e que é mais adesivo, fragmentos de bomba que penetram na carne em padrões mais difíceis de serem detectados… É função dos especialistas e dos principais meios de comunicação normalizar o impensável para o público em geral." No programa Today da Radio 4 (de 6 de novembro), um repórter da BBC em Bagdá se referiu aos iminentes ataques na cidade de Faluja como "perigosos" e "muito perigosos" para os norte-americanos. Quando perguntado sobre a população civil, ele disse, num tom tranqüilizador, que os marines dos EUA estavam "circulando com uma Tannoy" e dizendo às pessoas para abandonarem a cidade. Ele se esqueceu de dizer que milhares e milhares de pessoas seriam, na verdade, abandonadas na cidade. Ele mencionou, de passagem, o "mais intenso bombardeio" da cidade, sem nenhuma menção do que aquilo significaria para as pessoas que se encontrassem sob as bombas. Quanto aos defensores, ou seja, os iraquianos que resistem numa cidade que heroicamente ousou desafiar Saddam Hussein; eles são chamados de meros "insurgentes entrincheirados na cidade", como se fossem um corpo alienígena, uma inferior e descartável forma de vida a quem vai "se dar a descarga" (o Guardian), um apropriado "apanhador de ratos", que é o termo que outro repórter da BBC nos disse durante a Vigia Negra. Segundo um oficial britânico de alto nível, os americanos consideram os iraquianos como Untermenschen, um termo que Hitler usou em Mein Kampf para descrever os judeus, os rumenos e os eslavos, ou seja, como subumanos. É assim que o exército nazista assediou as cidades russas, matando tanto combatentes quanto não combatentes. A normalização de crimes coloniais, como o ataque contra Faluja, requer uma alta dose de racismo, associando nossa imaginação ao "outro". A reportagem afirma que os "insurgentes" são liderados por sinistros estrangeiros, como aqueles que cortam a cabeça das pessoas: por exemplo, Musab al-Zarqawi, um jordaniano sobre quem se afirma tratar-se de um dos "principais elementos" da al-Qaeda no Iraque. Isso é o que dizem os americanos; é também a mais recente mentira de Blair no Parlamento. Basta contar o número de vezes que o fato nos foi papagaiado frente à câmera. Nenhuma ironia é atribuída ao fato de que a absoluta maioria dos estrangeiros presentes no Iraque é composta de americanos e que, segundo todas as indicações, são abominados. Essas indicações provêm de organizações aparentemente críveis, as quais estimam que dos 2.700 ataques a cada mês, feitos pela resistência, seis podem ser creditados ao infame al-Zarqawi. Em carta enviada no dia 14 de outubro para Kofi Annan, o Conselho Shura de Faluja, que administra a cidade, disse: "Em Faluja, [os americanos] criaram um novo e vago alvo: al-Zarqawi. Quase um ano se passou desde a criação deste novo pretexto, e toda vez que destroem casas, mesquitas, restaurantes, e matam crianças e mulheres, eles dizem: ‘Lançamos uma operação bem sucedida contra al-Zarqawi.' O povo de Faluja lhe garante que esse pessoa, caso exista, não se encontra em Faluja… e que não temos qualquer ligação a qualquer grupo que apóia um comportamento tão desumano. Nós apelamos ao senhor para que pressione a ONU [para prevenir] o novo massacre que os americanos, juntamente com o governo fantoche, estão planejando começar em breve em Faluja, assim como em muitas outras partes do país." Nenhuma palavra foi reportada pelos principais canais de mídia da Grã-Bretanha ou dos EUA. "Mas o que será preciso para fazê-los desembuchar?" perguntou em abril o dramaturgo Ronan Bennett, depois que os marines dos EUA, num ato de vingança coletiva por terem matado quatro mercenários americanos, massacraram mais de 600 pessoas em Faluja; cifra essa que nunca foi negada. Na época, assim como agora, eles usaram o poder de fogo dos AC-130 e dos caça-bombardeiros F-16, assim como 500 libras de bombas contra as favelas. Eles incineraram as crianças, seus franco-atiradores tendo se gabado de terem matado tudo o que movia, como os franco-atiradores faziam em Sarajevo. Bennett se referia à legião dos silenciosos partidários Trabalhistas, com honrosas exceções, e aos ministros lobotomizados de nível inferior (lembram-se de Chris Mullin?). Ele poderia ter acrescentado aqueles jornalistas capazes de tudo para proteger "o nosso" lado, que normalizam o impensável, sem nem piscar diante da imoralidade e criminalidade demonstráveis. Naturalmente, ficarmos chocados com aquilo que "nós" somos capazes de fazer é perigoso, porque isso nos pode levar a uma melhor compreensão do porque "nós" estamos lá, tanto para começo de conversa, e sobre o "pesar" que "nós" levamos não somente ao Iraque, como a tantas partes do mundo: que o terrorismo da al-Qaeda seja uma bobagem, quando comparado ao nosso. Não há nada de ilícito quanto a essa "máscara", ela ocorre na luz do dia. O exemplo recente mais contundente foi o que seguiu o anúncio, em 29 de outubro, no Lancet, de um estudo que estimava que 100.000 iraquianos morreram como conseqüência da invasão anglo-americana. Oitenta e quatro por cento das mortes foram causadas pelas ações dos americanos e dos britânicos, e 95 por cento dessas se trataram de morte provocada por ataques aéreos e fogo de artilharia, a maioria contra mulheres e crianças. Os editores do excelente MediaLens observaram a pressa — ou melhor, a disparada — para atenuar essa notícia chocante com "ceticismo" e silêncio. Eles reportaram que, até o dia 2 de novembro, o relatório do Lancet tinha sido ignorado pelos jornais: Observer, Telegraph, Sunday Telegraph, Financial Times, Star, Sun e muitos outros. A BBC enquadrou o relatório em termos de "dúvidas" do governo e o Channel 4 News se incumbiu de fornecer uma versão devidamente podada, conforme briefing enviado por Downing Street. Com uma exceção, nenhum dos cientistas que compilaram esse relatório rigoroso e reexaminado foi solicitado a substanciar o trabalho até dez dias depois do seu lançamento, quando o pró-guerra Observer publicou uma entrevista com o editor do Lancet, apresentada como se o mesmo estivesse "respondendo aos seus críticos". David Edwards, um editor do MediaLens, perguntou aos pesquisadores para responderem à crítica da mídia; a demolição meticulosa das mesmas pode ser vista no alerta do site [http://www.medialens.org] do dia 2 de novembro. Nada disso foi publicado pelos principais veículos de comunicação. Assim, o fato impensável de que "nós" tínhamos nos engajado em tal massacre, foi suprimido — normalizado. Isso faz lembrar a supressão da morte de mais de um milhão de iraquianos, incluindo meio milhão de crianças com menos de cinco anos, como resultado do embargo imposto segundo insistência anglo-americana. Contrastando com isso, não há qualquer questionamento da mídia quanto à metodologia do Tribunal Especial Iraquiano, o qual anunciou que valas comuns em massa contêm 300.000 vítimas de Saddam Hussein. O Tribunal Especial, produto do regime colaboracionista de Bagdá, é controlado pelos americanos; cientistas respeitáveis não querem ter nada a ver com isso. Não há qualquer questionamento do que a BBC chama de "primeiras eleições democráticas". Não há qualquer reportagem de como os americanos assumiram o controle do processo eleitoral com dois decretos passados em junho, permitindo uma "comissão eleitoral" com efeito para eliminar os partidos de que Washington não gosta. A revista Time reporta que a CIA está comprando seus candidatos preferidos; é assim que a agência subornou eleições em todo o mundo. Quando e se as eleições ocorrerem, vamos receber doses de clichês sobre a nobreza do ato de votar, enquanto os fantoches da América são "democraticamente" eleitos. O modelo para isso foi a "cobertura" da eleição presidencial americana, uma tempestade de lugares comuns visando normalizar o impensável: porque aquilo que aconteceu em 2 de novembro não foi democracia em ação. Com somente uma exceção, do bando de especialistas que voaram de Londres, nenhum deles descreveu o circo de Bush e Kerry como a febre de menos de 1 por cento da população, os ultra-ricos e poderosos, que controlam e administram a permanente economia de guerra. O fato de que os perdedores não foram somente os democratas, mas a vasta maioria dos americanos, independentemente de para quem eles tenham votado, foi simplesmente tabu. Ninguém reportou que John Kerry, ao contrastar a "guerra contra o terror" com o ataque desastroso de Bush ao Iraque, meramente explorou a desconfiança quanto à invasão para construir suporte para o domínio americano no mundo. "Eu não estou dizendo para abandonarmos [o Iraque]", disse Kerry. "Estou falando em vencermos!". Desse modo, tanto ele quanto Bush deslocaram a agenda ainda mais para a direita, de modo que milhões de democratas contra a guerra pudessem ser persuadidos de que os EUA têm "a responsabilidade de finalizar o trabalho", a fim de que não haja "caos". A questão da campanha presidencial não foi Kerry nem Bush, mas uma economia de guerra visando à conquista no exterior e a divisão econômica em âmbito doméstico. O silêncio sobre isso foi compreensível, tanto na América quanto aqui. Bush ganhou ao invocar, mais habilmente do que Kerry, o medo de uma ameaça mal definida. Como é que ele foi capaz de normalizar essa paranóia? Vejamos o passado recente. Depois do fim da guerra fria, a elite americana — republicana e democrata — tinham grande dificuldade de convencer o público de que os bilhões de dólares gastos na economia de guerra não deveriam mudar de direção, no sentido de um "dividendo da paz". A maioria dos americanos recusaram de acreditar que ainda havia uma "ameaça" tão poderosa quanto a ameaça vermelha. Isso não preveniu Bill Clinton de enviar ao Congresso a maior conta de "defesa" da história em apoio de uma estratégia do Pentágono chamada "supremacia de espectro integral" ("full-spectrum dominance"). Em 11 de setembro de 2001, a ameaça recebeu um nome: Islã. Recentemente, num vôo para a Filadélfia, vi o relatório Kean do Congresso sobre o 11 de setembro, feito pela Comissão do 11/9, à venda nas livrarias dos aeroportos. "Quantos volumes vocês venderam?" perguntei. "Um ou dois", foi a resposta. "Vão sumir logo." Apesar disso, esse livro de capa azul é uma revelação. Como o relatório Butler no Reino Unido, o qual detalhou toda a evidência incriminadora de que Blair massageou a inteligência antes da invasão do Iraque, depois deu seus golpes e concluiu que ninguém era responsável, o relatório Kean deixa tudo o que aconteceu dolorosamente claro, só que falha ao não chegar às conclusões que, portanto, saltam aos olhos. Trata-se de um ato supremo de normalização do impensável. Não é de surpreender, já que as conclusões são vulcânicas. A evidência mais importante da Comissão do 11/9 veio do General Ralph Eberhart, comandante da North American Aerospace Defence Command (Norad). "Os aviões de caça da força aérea poderiam ter interceptado os aviões seqüestrados que se dirigiam ao World Trade Center e ao Pentágono," disse ele, "se os controladores do tráfego aéreo tivessem pedido ajuda 13 minutos antes… Poderíamos ter derrubado todos os três aviões… todos os quatro." Porque isso não aconteceu? O relatório Kean deixa claro que "a defesa do espaço aéreo dos EUA em 11/9 não foi conduzida de acordo com o treinamento e os protocolos preexistentes… Em caso de confirmação de seqüestro, os procedimentos estipulavam que o coordenador para seqüestro que estivesse de plantão contatasse o Centro de Comando Militar Nacional do Pentágono [ou Pentagon's National Military Command Center (NMCC)] . . . Daí, o NMCC pediria aprovação do departamento da Secretaria da Defesa para providenciar assistência militar…" Singularmente, isso não aconteceu. O administrador suplente da Federal Aviation Authority (Órgão Federal para a Aviação) disse à comissão que não havia qualquer razão para não tornar operativo o procedimento padrão. "Pelos meus 30 anos de experiência…" disse Monte Belger, "o NMCC estava na rede e ouviu tudo em tempo real… posso afirmar ter experienciado dúzias de seqüestros… e eles estavam sempre ouvindo ao mesmo tempo que os demais." Mas nessa ocasião, eles não estavam. O relatório Kean afirma que o NMCC nunca foi informado. Porque? De novo, extraordinariamente, todas as linhas de comunicação falharam, conforme foi dito à comissão. Donald Rumsfeld, secretário da defesa, não pôde ser encontrado; e quando finalmente falou com Bush, uma hora e meia depois, o relatório Kean diz: "foi uma chamada breve, na qual não se falou da autoridade para derrubar os aviões". Como conseqüência, os comandos de Norad foram "deixados no escuro, com relação a qual seria a missão deles". O relatório revela que a única parte do sistema de comando previamente à prova de falhas, e que estava em funcionamento era o da Casa Branca, onde o Vice Presidente Cheney estava em controle efetivo naquele dia, e em contato direto com o NMCC. Porque ele não fez nada a respeito dos dois primeiros aviões seqüestrados? Porque o NMCC, o elo vital, permaneceu silencioso pela primeira vez em sua existência? Kean ostensivamente se recusa a endereçar a questão. Naturalmente, ela pode ter sido o resultado da mais extraordinária combinação de coincidências. Ou não. Em julho de 2001, um documento top secret preparado para Bush afirmava: "Nós [a CIA e o FBI] acreditamos que OBL [Osama Bin Laden] lançará um significativo ataque terrorista contra interesses dos EUA e/ou de Israel nas próximas semanas. O ataque será espetacular e concebido para infligir mortes em massa contra instalações ou interesses dos EUA. As preparações para os ataques já foram efetuadas. Os ataques ocorrerão com pouco ou sem aviso prévio." Na tarde do dia 11 de setembro, Donald Rumsfeld, depois de ter fracassado em qualquer tipo de ação contra aqueles que tinham acabado de atacar os Estados Unidos, disse aos seus assessores para que colocassem em prática um ataque ao Iraque — quando qualquer evidência era inexistente. Dezoito meses depois, a invasão do Iraque, não provocada, e baseada em mentiras agora documentadas, teve lugar. Esse crime de proporções épicas é o maior escândalo de nosso tempo, o mais recente capítulo na longa história do século XX de conquistas feitas pelo ocidente das terras e dos recursos de outros povos. Se permitirmos que isso seja normalizado, se recusarmos a questionar e a provar as intenções escondidas e as inenarráveis estruturas secretas de poder no bojo dos governos "democráticos", e se permitirmos que o povo de Faluja seja esmagado em nosso nome, então é porque estamos renunciando tanto à democracia quanto à humanidade. John Pilger é atualmente professor visitante na Cornell University, Nova York. Seu livro mais recente, Tell Me No Lies: investigative journalism and its triumphs, (Não Me Digam Mentiras: jornalismo investigativo e seus triunfos) foi publicado pela Jonathan Cape. Este artigo apareceu primeiramente no New Statesman. Iraq: the unthinkable becomes normal John Pilger Monday 15th November 2004 Mainstream media speak as if Fallujah were populated only by foreign "insurgents". In fact, women and children are being slaughtered in our name. By John Pilger Edward S Herman's landmark essay, "The Banality of Evil", has never seemed more apposite. "Doing terrible things in an organised and systematic way rests on 'normalisation'," wrote Herman. "There is usually a division of labour in doing and rationalising the unthinkable, with the direct brutalising and killing done by one set of individuals . . . others working on improving technology (a better crematory gas, a longer burning and more adhesive napalm, bomb fragments that penetrate flesh in hard-to-trace patterns). It is the function of the experts, and the mainstream media, to normalise the unthinkable for the general public." On Radio 4's Today (6 November), a BBC reporter in Baghdad referred to the coming attack on the city of Fallujah as "dangerous" and "very dangerous" for the Americans. When asked about civilians, he said, reassuringly, that the US marines were "going about with a Tannoy" telling people to get out. He omitted to say that tens of thousands of people would be left in the city. He mentioned in passing the "most intense bombing" of the city with no suggestion of what that meant for people beneath the bombs. As for the defenders, those Iraqis who resist in a city that heroically defied Saddam Hussein; they were merely "insurgents holed up in the city", as if they were an alien body, a lesser form of life to be "flushed out" (the Guardian): a suitable quarry for "rat-catchers", which is the term another BBC reporter told us the Black Watch use. According to a senior British officer, the Americans view Iraqis as Untermenschen, a term that Hitler used in Mein Kampf to describe Jews, Romanies and Slavs as sub-humans. This is how the Nazi army laid siege to Russian cities, slaughtering combatants and non-combatants alike. Normalising colonial crimes like the attack on Fallujah requires such racism, linking our imagination to "the other". The thrust of the reporting is that the "insurgents" are led by sinister foreigners of the kind that behead people: for example, by Musab al-Zarqawi, a Jordanian said to be al-Qaeda's "top operative" in Iraq. This is what the Americans say; it is also Blair's latest lie to parliament. Count the times it is parroted at a camera, at us. No irony is noted that the foreigners in Iraq are overwhelmingly American and, by all indications, loathed. These indications come from apparently credible polling organisations, one of which estimates that of 2,700 attacks every month by the resistance, six can be credited to the infamous al-Zarqawi. In a letter sent on 14 October to Kofi Annan, the Fallujah Shura Council, which administers the city, said: "In Fallujah, [the Americans] have created a new vague target: al-Zarqawi. Almost a year has elapsed since they created this new pretext and whenever they destroy houses, mosques, restaurants, and kill children and women, they said: 'We have launched a successful operation against al-Zarqawi.' The people of Fallujah assure you that this person, if he exists, is not in Fallujah . . . and we have no links to any groups supporting such inhuman behaviour. We appeal to you to urge the UN [to prevent] the new massacre which the Americans and the puppet government are planning to start soon in Fallujah, as well as many parts of the country." Not a word of this was reported in the mainstream media in Britain and America. "What does it take to shock them out of their baffling silence?" asked the playwright Ronan Bennett in April after the US marines, in an act of collective vengeance for the killing of four American mercenaries, killed more than 600 people in Fallujah, a figure that was never denied. Then, as now, they used the ferocious firepower of AC-130 gunships and F-16 fighter-bombers and 500lb bombs against slums. They incinerate children; their snipers boast of killing anyone, as snipers did in Sarajevo. Bennett was referring to the legion of silent Labour backbenchers, with honourable exceptions, and lobotomised junior ministers (remember Chris Mullin?). He might have added those journalists who strain every sinew to protect "our" side, who normalise the unthinkable by not even gesturing at the demonstrable immorality and criminality. Of course, to be shocked by what "we" do is dangerous, because this can lead to a wider understanding of why "we" are there in the first place and of the grief "we" bring not only to Iraq, but to so many parts of the world: that the terrorism of al-Qaeda is puny by comparison with ours. There is nothing illicit about this cover-up; it happens in daylight. The most striking recent example followed the announcement, on 29 October, by the prestigious scientific journal, the Lancet, of a study estimating that 100,000 Iraqis had died as a result of the Anglo-American invasion. Eighty-four per cent of the deaths were caused by the actions of the Americans and the British, and 95 per cent of these were killed by air attacks and artillery fire, most of whom were women and children. The editors of the excellent MediaLens observed the rush - no, stampede - to smother this shocking news with "scepticism" and silence. They reported that, by 2 November, the Lancet report had been ignored by the Observer, the Telegraph, the Sunday Telegraph, the Financial Times, the Star, the Sun and many others. The BBC framed the report in terms of the government's "doubts" and Channel 4 News delivered a hatchet job, based on a Downing Street briefing. With one exception, none of the scientists who compiled this rigorously peer-reviewed report was asked to substantiate their work until ten days later when the pro-war Observer published an interview with the editor of the Lancet, slanted so that it appeared he was "answering his critics". David Edwards, a MediaLens editor, asked the researchers to respond to the media criticism; their meticulous demolition can be viewed on the [http://www.medialens.org] alert for 2 November. None of this was published in the mainstream. Thus, the unthinkable that "we" had engaged in such a slaughter was suppressed - normalised. It is reminiscent of the suppression of the death of more than a million Iraqis, including half a million infants under five, as a result of the Anglo-American-driven embargo.
In contrast, there is no media questioning of the methodology of the Iraqi Special Tribune, which has announced that mass graves contain 300,000 victims of Saddam Hussein. The Special Tribune, a product of the quisling regime in Baghdad, is run by the Americans; respected scientists want nothing to do with it. There is no questioning of what the BBC calls "Iraq's first democratic elections". There is no reporting of how the Americans have assumed control over the electoral process with two decrees passed in June that allow an "electoral commission" in effect to eliminate parties Washington does not like. Time magazine reports that the CIA is buying its preferred candidates, which is how the agency has fixed elections over the world. When or if the elections take place, we will be doused in cliches about the nobility of voting, as America's puppets are "democratically" chosen. The model for this was the "coverage" of the American presidential election, a blizzard of platitudes normalising the unthinkable: that what happened on 2 November was not democracy in action. With one exception, no one in the flock of pundits flown from London described the circus of Bush and Kerry as the contrivance of fewer than 1 per cent of the population, the ultra-rich and powerful who control and manage a permanent war economy. That the losers were not only the Democrats, but the vast majority of Americans, regardless of whom they voted for, was unmentionable. No one reported that John Kerry, by contrasting the "war on terror" with Bush's disastrous attack on Iraq, merely exploited public distrust of the invasion to build support for American dominance throughout the world. "I'm not talking about leaving [Iraq]," said Kerry. "I'm talking about winning!" In this way, both he and Bush shifted the agenda even further to the right, so that millions of anti-war Democrats might be persuaded that the US has "the responsibility to finish the job" lest there be "chaos". The issue in the presidential campaign was neither Bush nor Kerry, but a war economy aimed at conquest abroad and economic division at home. The silence on this was comprehensive, both in America and here. Bush won by invoking, more skilfully than Kerry, the fear of an ill-defined threat. How was he able to normalise this paranoia? Let's look at the recent past. Following the end of the cold war, the American elite - Republican and Democrat - were having great difficulty convincing the public that the billions of dollars spent on the war economy should not be diverted to a "peace dividend". A majority of Americans refused to believe that there was still a "threat" as potent as the red menace. This did not prevent Bill Clinton sending to Congress the biggest "defence" bill in history in support of a Pentagon strategy called "full-spectrum dominance". On 11 September 2001, the threat was given a name: Islam. Flying into Philadelphia recently, I spotted the Kean congressional report on 11 September from the 9/11 Commission on sale at the bookstalls. "How many do you sell?" I asked. "One or two," was the reply. "It'll disappear soon." Yet, this modest, blue-covered book is a revelation. Like the Butler report in the UK, which detailed all the incriminating evidence of Blair's massaging of intelligence before the invasion of Iraq, then pulled its punches and concluded nobody was responsible, so the Kean report makes excruciatingly clear what really happened, then fails to draw the conclusions that stare it in the face. It is a supreme act of normalising the unthinkable. This is not surprising, as the conclusions are volcanic. The most important evidence to the 9/11 Commission came from General Ralph Eberhart, commander of the North American Aerospace Defence Command (Norad). "Air force jet fighters could have intercepted hijacked airliners roaring towards the World Trade Center and Pentagon," he said, "if only air traffic controllers had asked for help 13 minutes sooner . . . We would have been able to shoot down all three . . . all four of them." Why did this not happen? The Kean report makes clear that "the defence of US aerospace on 9/11 was not conducted in accord with pre-existing training and protocols . . . If a hijack was confirmed, procedures called for the hijack coordinator on duty to contact the Pentagon's National Military Command Center (NMCC) . . . The NMCC would then seek approval from the office of the Secretary of Defence to provide military assistance . . . " Uniquely, this did not happen. The commission was told by the deputy administrator of the Federal Aviation Authority that there was no reason the procedure was not operating that morning. "For my 30 years of experience . . ." said Monte Belger, "the NMCC was on the net and hearing everything real-time . . . I can tell you I've lived through dozens of hijackings . . . and they were always listening in with everybody else." But on this occasion, they were not. The Kean report says the NMCC was never informed. Why? Again, uniquely, all lines of communication failed, the commission was told, to America's top military brass. Donald Rumsfeld, secretary of defence, could not be found; and when he finally spoke to Bush an hour and a half later, it was, says the Kean report, "a brief call in which the subject of shoot-down authority was not discussed". As a result, Norad's commanders were "left in the dark about what their mission was".
The report reveals that the only part of a previously fail-safe command system that worked was in the White House where Vice-President Cheney was in effective control that day, and in close touch with the NMCC. Why did he do nothing about the first two hijacked planes? Why was the NMCC, the vital link, silent for the first time in its existence? Kean ostentatiously refuses to address this. Of course, it could be due to the most extraordinary combination of coincidences. Or it could not. In July 2001, a top secret briefing paper prepared for Bush read: "We [the CIA and FBI] believe that OBL [Osama Bin Laden] will launch a significant terrorist attack against US and/or Israeli interests in the coming weeks. The attack will be spectacular and designed to inflict mass casualties against US facilities or interests. Attack preparations have been made. Attack will occur with little or no warning." On the afternoon of 11 September, Donald Rumsfeld, having failed to act against those who had just attacked the United States, told his aides to set in motion an attack on Iraq - when the evidence was non-existent. Eighteen months later, the invasion of Iraq, unprovoked and based on lies now documented, took place. This epic crime is the greatest political scandal of our time, the latest chapter in the long 20th-century history of the west's conquests of other lands and their resources. If we allow it to be normalised, if we refuse to question and probe the hidden agendas and unaccountable secret power structures at the heart of "democratic" governments and if we allow the people of Fallujah to be crushed in our name, we surrender both democracy and humanity. John Pilger is currently a visiting professor at Cornell University, New York. His latest book, Tell Me No Lies: investigative journalism and its triumphs, is published by Jonathan Cape This article first appeared in the New Statesman. For the latest in current and cultural affairs subscribe to the New Statesman print edition.
Envie
um comentário sobre este artigo
|
|