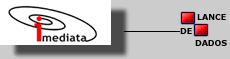|
|
|
|
O descaso dos nossos escritores |
|
|
John Pilger Tradução
Imediata |
|
|
Martin Amis representa um problema: alguns de nossos escritores mais aclamados e privilegiados que se expressam no idioma inglês, falharam ao não se engajarem nas questões mais prementes de nossa era. No dia 1º de junho, o The Guardian publicou um longo ensaio de autoria de Martin Amis, titulado "A voz da multidão solitária". Tratava a respeito do 11 de setembro e do papel dos escritores. Quais eram os pensamentos de Amis sobre aquele importante dia? Ele pensava que era "como Josephine, a camundonga cantora de ópera da estória do Kafka: Cantar? ‘Ela nem sequer pode guinchar.’" Com isso, ele quis dizer, acredito, que não tinha nada a dizer sobre "os conflitos que enfrentamos ou tememos agora", tanto para usar as palavras dele. Porque não? Onde estava o espírito de Orwell de Greene? Onde estava o modesto reconhecimento da história: uma reflexão passageira sobre o impacto da grande potência predadora nas sociedades vulneráveis, que está na raiz do corrente "terrorismo"? Amis corretamente indicou o "balbuciar lamentável" dos escritores, após o 11 de setembro. A maioria dos nomes mais famosos que ouvimos, suas contribuições indo da sombria gravitação em torno do próprio ‘eu’ a uma defesa agressiva da América e de sua "modernidade". Nenhum escritor inglês, a comando da celebridade que providencia uma extraordinária plataforma pública, conseguiu escrever qualquer coisa mais incisiva e merecedora de nossa memória sobre o significado e a exploração do 11 de setembro — com exceção, como sempre, de Harold Pinter. Comparem o "balbuciar" desses escritores, assim como o seu silêncio, com o trabalho do famoso poeta palestino Mahmoud Darwish, tema de um belo perfil do The Guardian, no dia 8 de junho, por Maya Jaggi. Darwish é o poeta que mais vende no mundo árabe; poeta do povo pode parecer uma frase batida, mas ele atrai milhares aos seus escritos, entusiasmando suas audiências com um lirismo que toca suas vidas, fazendo sentido do poder, injustiça e tragédia. Em seu poema mais recente, "Estado de Assédio", um "mártir" diz: Amo a vida Na terra, entre os pinheiros e as figueiras. Mas não posso alcançá-los, então apontei ao alvo Com a última coisa que me pertencia. Os manuscritos de Darwish foram pisoteados pelos soldados israelenses, no centro cultural de Ramallah, onde trabalha frequentemente. Eu estive nesse prédio há um mês, pouco depois da saída dos soldados. Eles defecaram nos pisos e lambuzaram bosta nas fotocopiadoras, mijaram nos livros e nas paredes, e sistematicamente destruíram manuscritos de peças de teatro e romances e discos rígidos. "Eles queriam nos sinalizar a mensagem de que ninguém está imune — inclusive a vida cultural", diz Darwish. "O povo palestino é apaixonado pela vida. Se nós lhes damos uma esperança — uma solução política — eles vão parar de se matar." Talvez seja injusto comparar um Darwish com um Amis. Um fala dos crimes contra o seu povo, afinal de contas. Mas Amis representa um problema mais amplo: que alguns de nossos escritores mais aclamados e privilegiados que se expressam no idioma inglês, falharam ao não se engajarem nas questões mais prementes de nossa era. Quem. entre os colecionadores de prêmios Booker e Whitbread. fala contra os crimes descritos por Darwish — produto da mais longa ocupação militar da era moderna? Quem, desde o 11 de setembro, tem defendido a nossa língua, iluminando o seu abuso a serviço dos objetivos e da hipocrisia da grande potência? Quem demonstrou que as nossas reações humanas ao 11 de setembro foram apropriadas pelos próprios mestres do terror? — por Ariel Sharon e seu "bom amigo" George W Bush, que bombardearam à morte pelo menos 5.000 civis no Afeganistão. Consideremos a referência sem explicações de Amis aos conflitos que agora devemos "enfrentar ou temer". Os palestinos têm enfrentado e temido uma ocupação por mais de 35 anos: um impasse hediondo patrocinado por cada governo americano desde o de Lyndon Johnson e reiterado este mês pelo próprio Bush. Desde o 11 de setembro, aqueles a quem foi permitido moer o inglês em uma série de clichés propagando a "guerra contra o terrorismo" deles, também têm suprido o regime israelense com 50 caças-bombardeiros F-16, 102 espingardas Gatling, 228 munições de ataque direto conjunto (joint direct attack munitions, ou JDAMs) e 24 helicópteros Blackhawk. Uma remessa de ultramodernos helicópteros Apache está a caminho. É provável que vocês tenham visto o Apache no telejornal, disparando mísseis em quarteirões de apartamentos residenciais da população civil da Palestina ocupada. Outro dia, falei com um grupo de crianças de Gaza. Elas sorriam, mas era evidente que seus sonhos, e de fato, sua própria infância, foram "despachados" pelos ataques israelenses a um povo que, em sua maioria, tem se defendido com estilingues. Entre essas crianças, quase certamente, estão aqueles que sacrificarão, como escreveu Darwish: "a última coisa que me pertencia". Quem é o equivalente dele no ocidente, colocando aquela sabedoria contra a participação de nosso governo na construção desse terror? Nos anos 80, Martin Amis publicou uma preciosa coleção de ensaios sobre a ameaça da guerra nuclear. Hoje, a índia e o Paquistão se ameaçam com a guerra nuclear, o que não é surpreendente, num mundo dominado por ameaças, desde o 11 de setembro: um mundo onde ou-você-está-conosco-ou-está-contra-nós, um mundo de bomba já e conversa depois. O que Amis ou qualquer outro escritor inglês tem a dizer sobre o grande guerreiro da Casa Branca contra o terrorismo, que diz: "primeiro atacar" é a política atual da superpotência e que a América "deve estar pronta para atacar num segundo, em qualquer canto obscuro do mundo"? Isso inclui a opção nuclear, Martin Amis, e você deveria estar ainda interessado. "Depois do 11 de setembro", escreveu Amis no The Guardian, "os escritores enfrentaram uma mudança quantitativa, mas não qualitativa… Ficaram em eterna oposição à voz da multidão solitária, a qual, com seu desejo seja de poder seja de apagamento, é o som mais desolado que jamais será ouvido." Aqueles que publicam e promovem palavras tão vazias, segurando as togas dos atuais imperadores da literatura inglesa, têm a responsabilidade urgente de entregar o espaço aos outros. Nossa língua deveria ser reivindicada, seu vocabulário orwelliano restituído, suas nobres palavras, tais como "democracia" e "liberdade" protegidas, e seu poder deslocado para combater todos os fundamentalismos, especialmente o nosso próprio. Precisamos encontrar e publicar o nosso próprio Mahmoud Darwish, nossa própria Arundhati Roy, nosso próprio Ahdaf Soueif, nosso próprio Eduardo Galeano, e muito depressa.
Our Writers' Failure by John Pilger June 26, 2002 Martin Amis represents a problem: that some of the most acclaimed and privileged writers in the English language fail to engage with the most urgent issues of our time. On 1 June, the Guardian published a long essay by Martin Amis, entitled "The voice of the lonely crowd". It was about 11 September and the role of writers. What did Amis think about on the momentous day? He thought he was "like Josephine, the opera-singing mouse in the Kafka story: Sing? 'She can't even squeak.'" By that he meant, I guess, that he had nothing to say about "the conflicts we now face or fear", as he put it. Why not? Where was the spirit of Orwell and Greene? Where was a modest acknowledgement of history: a passing reflection on the impact of rapacious great power on vulnerable societies, which are the roots of the current "terrorism"? Amis referred rightly to the "pitiable babble" of writers following 11 September. Most of the famous names were heard, their contributions ranging from morose me-ism to an aggressive defence of America and its "modernity". Not a single English writer commanding the celebrity that provides an extraordinary public platform has written anything incisive and worthy of our memory about the meaning and exploitation of 11 September - with the exception, as ever, of Harold Pinter. Compare their "babble", and their silence, with the work of the celebrated Palestinian poet Mahmoud Darwish, the subject of a fine Guardian profile on 8 June by Maya Jaggi. Darwish is the Arab world's bestselling poet; people's poet may sound trite, but he draws thousands to his readings, thrilling his audiences with a lyricism that touches their lives and makes sense of power, injustice and tragedy. In his latest poem, "State of Siege", a "martyr" says: I love life On earth, among the pines and the fig trees But I can't reach it, so I took aim With the last thing that belonged to me. Darwish's manuscripts were trampled under foot by Israeli soldiers at the cultural centre in Ramallah where he often works. I was in this building last month, not long after the Israelis had left. They had defecated on the floors, and smeared shit on the photocopiers, and pissed on books and up the walls, and systematically destroyed manuscripts of plays and novels and hard disks. As they left, they threw paint on a wall of children's drawings. "They wanted to give us a message that nobody's immune - including in cultural life," says Darwish. "Palestinian people are in love with life. If we give them hope - a political solution - they'll stop killing themselves." Perhaps it is unfair to compare a Darwish with an Amis. One is speaking for the crimes against his people, after all. But Amis represents a wider problem: that some of the most acclaimed and privileged writers writing in the English language fail to engage with the most urgent issues of our time. Who among the collectors of Booker and Whitbread Prizes speaks against the crimes described by Darwish - the product of the longest military occupation in the modern era? Who, since 11 September, has defended our language, illuminating its abuse in the service of great power's goals and hypocrisy? Who has shown that our humane responses to 11 September have been appropriated by the masters of terror themselves? - by Ariel Sharon and his "good friend" George W Bush, who bombed to death at least 5,000 civilians in Afghanistan. Consider Amis's unexplained reference to the conflicts we must now "face or fear". The Palestinians have been facing and fearing an occupation for more than 35 years: an atrocious stalemate sponsored by every American administration since that of Lyndon Johnson and reaffirmed this month by Bush himself. Since 11 September, those who have been allowed to grind English into a series of clichés propagating their "war on terrorism" have also supplied the Israeli regime with 50 F-16 fighter-bombers, 102 Gatling guns, 228 joint direct attack munitions (JDAMs) and 24 Blackhawk helicopters. A batch of state-of-the art Apache helicopters is on the way. You may have seen the Apache on the news, firing missiles at civilian apartment blocks in occupied Palestine. The other day, I spoke to a group of children in Gaza. They smiled, but it was clear that their dreams, indeed their childhood, had been despatched by Israel's attacks on a people who, for the most part, have defended themselves with slingshots. Among these children, almost certainly, are those who will sacrifice, as Darwish wrote, "the last thing that belonged to me". Who is his equivalent in the west, setting that wisdom against our government's part in the making of this terror? In the 1980s, Martin Amis published a valuable collection of essays on the threat of nuclear war. Today, India and Pakistan seriously threaten nuclear war, which is not surprising, in a world dominated by threats since 11 September: a world of either-you-are-with-us-or-against-us, of bomb now and talk later. What does Amis or any English writer have to say about the great warrior against terrorism in the White House, who says that "first strike" is now the superpower's policy and that America "must be ready to strike at a moment's notice in any dark corner of the world"? This includes the nuclear option, Martin Amis, should you still be interested. "After 11 September," wrote Amis in the Guardian, "writers faced quantitative change, but not qualitative change . . . They stood in eternal opposition to the voice of the lonely crowd, which, with its yearning for both power and effacement, is the most desolate sound you will ever hear." Those who publish and promote such empty words, holding the robes of English literature's current emperors, have an urgent responsibility to hand the space to others. Our language should be reclaimed, its Orwellian vocabulary reversed, its noble words such as "democracy" and "freedom" protected, and its power redeployed against all fundamentalisms, especially our own. We need to find and publish our own Mahmoud Darwish, our own Arundhati Roy, our own Ahdaf Soueif, our own Eduardo Galeano, and quickly. John Pilger's latest book, The New Rulers of the World, is published by Verso
Envie
um comentário sobre este artigo
|
|